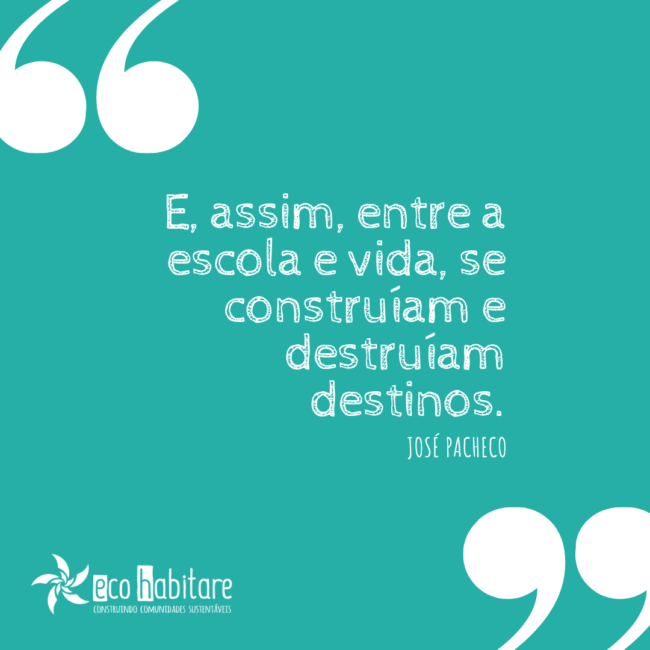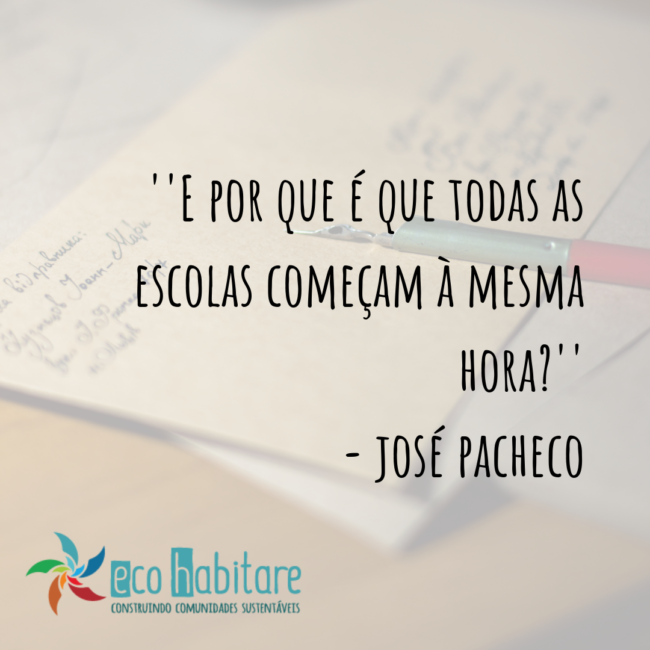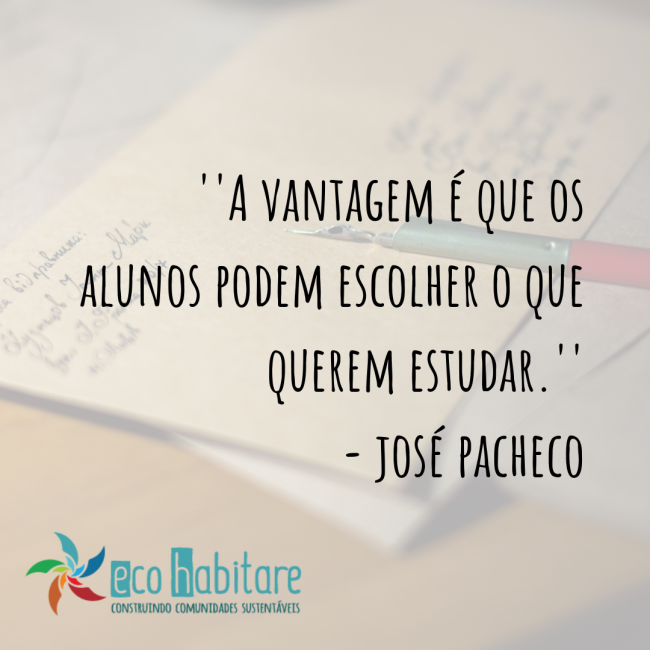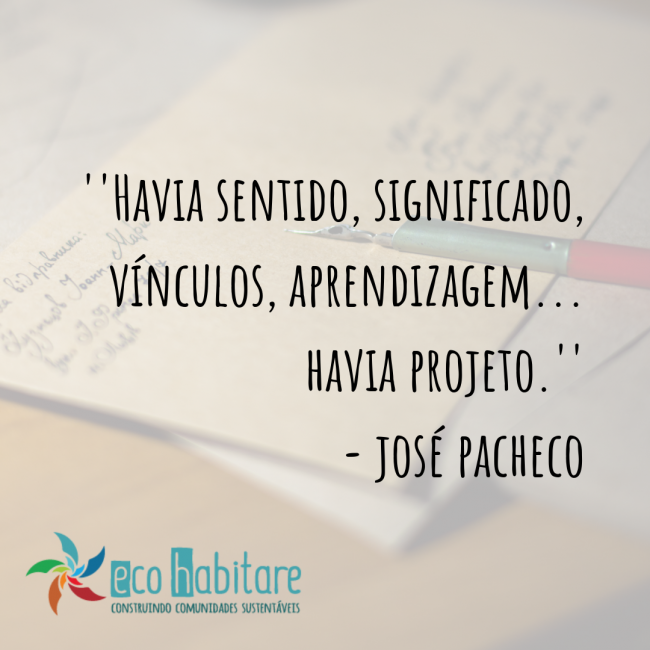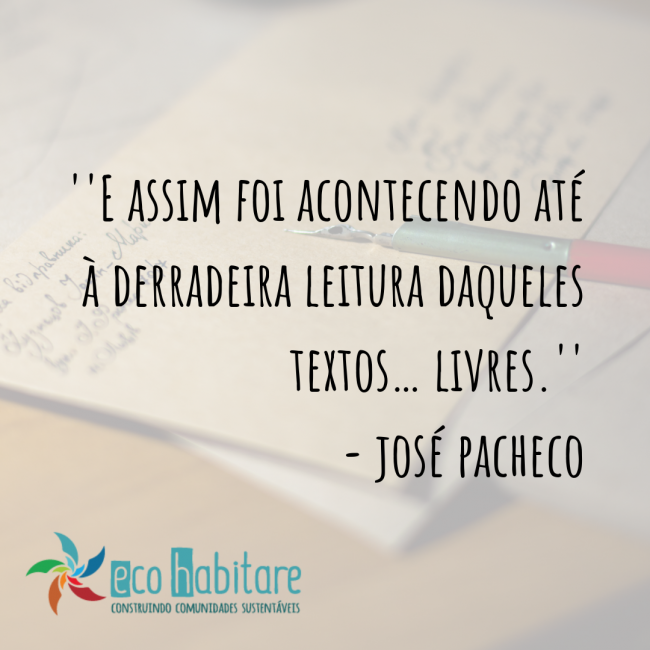Porto, fevereiro de 2040
Queridos netos,
Pedi à Eliza que me emprestasse palavras para esta carta, excerto de um e-mail de há trinta anos:
Não imaginas a minha alegria de ser compelida a ler, mesmo quando os olhos se fecham involuntariamente e a cabeça e o corpo clamam por repouso. Obrigada, muito obrigada, por reacender a chama no meu coração de educadora. As pessoas sempre fugiram de mim, quando eu era criança, por perguntar demais e nunca estar satisfeita. Hoje, faço questão de responder a quaisquer perguntas que meus três filhos (e 200 alunos) façam. Converso muito com eles, não me canso de responder a tantas perguntas que fazem. E, quando não sei, o digo, e vamos procurar juntos. Com a minha filha viajo no tempo e no espaço. É incrível o elevado grau de entendimento e espiritualidade destas crianças, muito mais evidente do que o dos adultos! Adoro instigá-las a questionar sobre o que veem, leem, ou pretendem conhecer. É fantástico, maravilhoso o brilho nos seus olhos, quando fazem alguma conexão com algo que já sabiam, ou que finalmente faz sentido.
Era frustrante ver essa chama apagar-se, a cada ano que passavam, dentro e fora de um prédio a que chamavam “escola”, apesar de haver maravilhosos professores dentro dos prédios. Ou a ocupar seu tempo com banalidades e passatempos inúteis, em sites de relacionamento artificial, em joguinhos que as faziam esquecer da própria vida, consumindo o que um mundo materialista oferecia como sendo verdadeiro. Há trinta anos, a Eliza questionava professores e pais: o que estamos a fazer de nossas vidas?
Por saber que a chama se apaga e a memória dos homens é curta, reabri a gaveta onde guardo os recados dos alunos e folhas de diário. Encontrei alguns registos dos idos de 76: Todas as manhãs, o Arnaldo já chega cansado de duas horas de trabalho. Antes de rumar à escola, o Rui foi ao lavrador buscar o leite, levou os irmãos menores ao infantário, fez os recados da Dona Alice, arrumou a casa toda. O Carlos falta quase todas as tardes. O pai manda-o distribuir por toda a vila as folhas que dão notícia dos falecimentos da véspera, ou tem que carregar as alfaias dos funerais.
O tempo amareleceu as folhas dos cadernos onde as crianças deixaram ficar pedaços de vida. Aos nove anos, o Fernando disse o que queria ser quando fosse grande, escreveu os projetos do seu futuro, para sempre destruídos num estúpido acidente de bicicleta, que ele comprara com os primeiros salários de tecelão. Outros não chegaram a adultos, por se deixarem envolver nas teias que o tráfico tecia. Houve, também, quem abandonasse a escola e optasse pelas lições que a escola da vida oferecia. Outros diziam querer mudar de vida…
E o que me diziam os pais?
O senhor professor que me diz? Eu acho que o Jorge já tem idade para ir com o tio para as feiras. Se não vai, só me apanha vícios, más companhias.
Ela já não anda aqui a fazer nada. E olhe que o que ela gosta mesmo é da costura. O senhor fecha os olhos… e eu nem me importo que me cortem no abono. Assim, sempre sei que ela está vigiada e já vai ganhando algum para a casa.
A Gracinda? Que quer, Professor Zé? A gente é pobre e ela já anda, vai para oito meses, na confecção do Senhor Carlos. Ele ainda não lhe pagou, mas diz que, se continuar assim, lhe dá dez contos por mês, não tarda nada. Mas, se ela disser alguma coisa, ainda vem parar-me à rua! Ela, agora, até faz sábados e, às vezes, até domingos. Mas que quer que lhe faça? Quando há uma encomenda urgente, também trabalha à noite, mas só quando lhe pedem...
E, assim, entre a escola e vida, se construíam e destruíam destinos.
Com amor,
O vosso avô José.
Por: José Pacheco