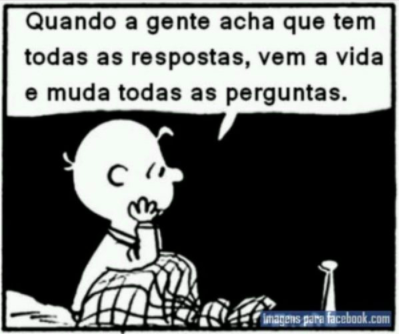Tavira, 9 de maio de 2041
No início do mês de maio de há vinte anos, no meu país de adoção, a covid-19 continuava a provocar mortes evitáveis, mais de quatrocentas mil! Era um país isolado do mundo. O “regime de medo” brasileiro provocara reações de medo em outros países. Era enorme o padecimento nas filas dos aeroportos para os migrantes brasileiros e para quem era meio brasileiro, como eu. À distância de duas décadas, relativizo e dureza da memória, porque o bom povo brasileiro soube sair dessa triste situação. Longe vai esse tempo, em que o povo elegia os seus algozes!
Uma pesquisa realizada pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins concluiu que familiares de alunos que “voltavam às aulas” tinham de 30% a 47% mais chance de pegar covid-19. Alheio ao estudo, os desgovernos da nação ordenavam o “regresso às aulas”.
No Brasil de novembro de 2020, os jornais noticiavam que o governo não agira para solucionar os problemas da educação durante a pandemia. Havia um “apagão” nas escolas públicas. O estudo “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil – um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na Educação” dava a conhecer que, com os prédios das escolas fechados, quase um milhão e meio de crianças e adolescentes de seis a dezessete anos não frequentavam escola remota ou presencial. Três milhões e setecentos mil não tiveram acesso a atividades escolares, nem conseguiram aprender em casa. Mais de cinco milhões de crianças em idade escolar viram negado o acesso à educação. A exclusão afetou mais quem já vivia em situação vulnerável: crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas.
Na obra “O Brasil Como Problema”, Darcy questionava: Qual é a causa real de nosso atraso e pobreza? Quem implantou esse sistema perverso e pervertido? E propunha um diagnóstico dos obstáculos cruciais, que a nação brasileira precisaria ultrapassar, para se desenvolver. Nesse livro, o maior dos obstáculos seria a nefasta ação de um certo tipo de intelectual: o áulico.
O áulico era um ajudante-de-ordens, aquele que estava contente com o mundo tal qual era. Prosperava, vivendo à sombra do poder, produzindo ideias irrelevantes, planos inconsequentes, ou contribuindo para destruir qualquer esboço de inovação educacional.
Identifiquei dois tipos de áulicos: os ingênuos e os esquizofrênicos. Os primeiros controlavam estruturas do poder público. Os outros infestavam universidades e comissões de especialistas. Enfeitavam as suas teses com palavras de belo efeito, aparentemente, defendiam a “escola pública”, mas na prática contribuíam para a manter na menoridade intelectual, moral e social.
Portugal e Brasil eram pródigos em excelentes teóricos, embora não os soubesse distinguir de falastrões e de áulicos obstáculos. Nas escolas particulares, onde educação se convertia em mercadoria, as novas tecnologias assumiam-se como diferencial de mercado. Na ânsia de deter a queda da taxa de evasão e para melhorar a captação de alunos, ingênuos gestores recorriam a áulicas consultorias, especializadas no uso da tecnologia para atrair pais e capt(ur)ar alunos.
Os áulicos agiam como poderoso, nefasto obstáculo à mudança. A falência do modelo instrucionista era disfarçada com “inovadores” placebos, como escrevia a minha amiga Tina num excelente artigo. Havia quem se apropriasse de conceitos como o de “educação integral”, para batizar práticas obsoletas, ainda que patrocinadas por empresas e até pelo poder público. Em contrapartida, educadores empenhados em inovadoras práticas eram persuadidos a abandoná-las, ou cediam perante ameaças.
Por: José Pacheco