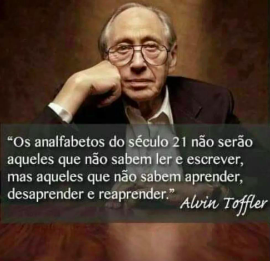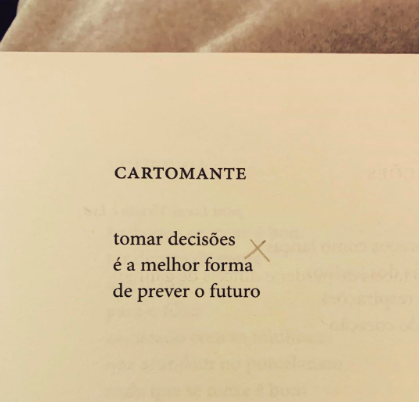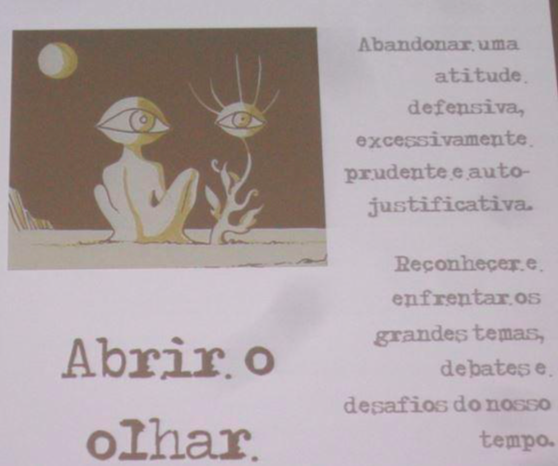Fátima, 15 de fevereiro de 2044
Eis-me na terra dos milagres. Em tempos idos, havia quem dissesse, talvez jocosamente, que, quando um professor brasileiro ia a Portugal, visitava Fátima e… a Escola da Ponte.
Certo é que, quando aportei ao Brasil, me apercebi de que a Ponte se tinha transformado num mito. O amigo Rubem havia publicado “A Escola com que sempre sonhei”. E o “sonho” de todo o bom educador era rumar a Portugal e à Escola da Ponte.
Quando me emancipei do etnocentrismo europeu de que padecia, fui viver entre povos originários, em quilombos e favelas, enveredando por um processo de descolonização mental, que me permitiu ajudar a desenvolver projetos como o da Escola do Projeto Âncora. A melhor Educação estava no Sul. E pelo Sul me deixei ficar, para aprender.
No Brasil, a ausência de autonomia precipitara o sucateamento da escola pública e provocara a sua desintegração. Nas palavras de Anísio Teixeira:
“Essa desintegração se completa com a supressão da autonomia quanto ao ensino, sua seriação, métodos e exames. Levada a ordenação externa da escola até esse ponto, é evidente que nada restará senão o automatismo de diretores e mestres, a executar o que não planejaram, nem pensaram, nem estudaram, como se estivessem no mais mecânico dos serviços.
Ora, mais não será preciso dizer para explicar a pobreza, a estagnação, a total ausência de pedagogia, que vai pelas nossas escolas. De todas as instituições, nenhuma precisa de maior autonomia e liberdade de ação do que a escola. Cumpre dar a cada estabelecimento o máximo de autonomia possível e essa regra é a grande regra de ouro da educação.
As escolas só voltarão a ser vivas, progressivas, conscientes e humanas, quando se libertarem, assumindo todas as responsabilidades.”
Eis o que Anísio pensava da administração e gestão das escolas. Sábias e atuais considerações, escritas há quase um século.
Desde então, o discurso sobre autonomia apenas logrou enfeitar normativos. Abundava no texto dos projetos, mas estava arredada das práticas efetivas das escolas. Isso mesmo: muitas escolas não cumpriam os seus projetos escritos, por não serem autônomas.
O “sistema” mantinha-se cativo de funcionários legalistas que, à tralha normativa herdada das ditaduras, foram acrescentando despachos, resoluções e outros documentos caraterísticos de uma gestão burocratizada. Se muitas dessas normas fossem analisadas à luz das ciências da educação, concluir-se-ia serem ilegais.
Mas, como é característico do terceiro tempo da modernidade, emergiam nesse contexto de “renúncia á interpretação”, movimentos de resistência. Professores assumiam o seu compromisso ético com a Educação, reivindicavam a dignidade do exercício de autonomia profissional, propondo a celebração de verdadeiros contratos e termos de autonomia.
Talvez os critérios de natureza científica e pedagógica passassem, finalmente, a prevalecer nas decisões de política educacional. Talvez os projetos escritos pudessem ser postos em prática. Refiro-me a uma autonomia de duplo significado: a do indivíduo e a do indivíduo em grupo – nunca separadas! De outro modo, o exercício de autonomia conduzir-nos-ia ao absurdo do ideal de autossuficiência caraterístico das sociedades modernas, numa arrogância autónoma que seria a negação da aprendizagem da autonomia e da aprendizagem com os outros.
O vosso avô estivera em Fátima, nos idos de setenta, colaborando na elaboração de um currículo para a escola da democracia. Mas, o milagre de uma nova Educação não aconteceu. Dessa vez, não esperaríamos por milagres.
Por: José Pacheco