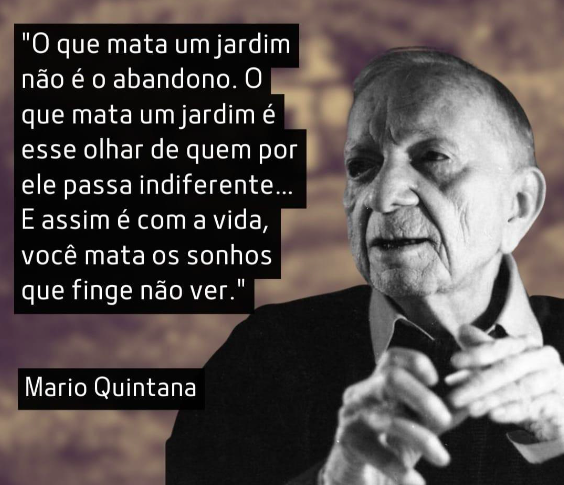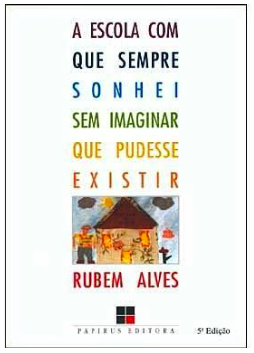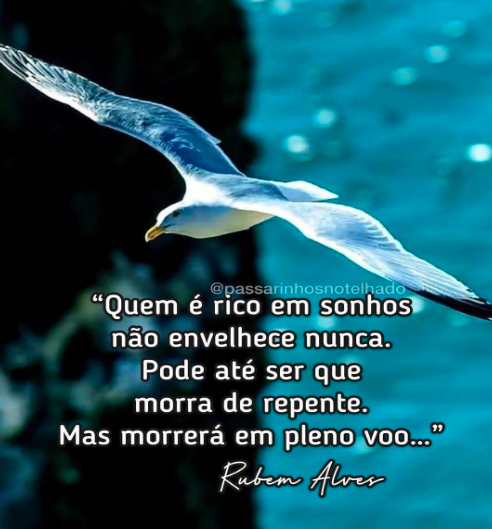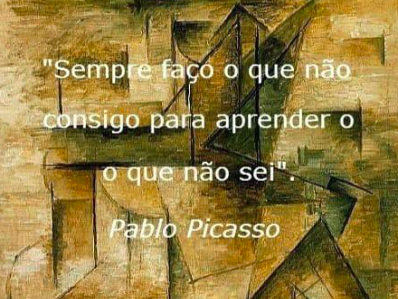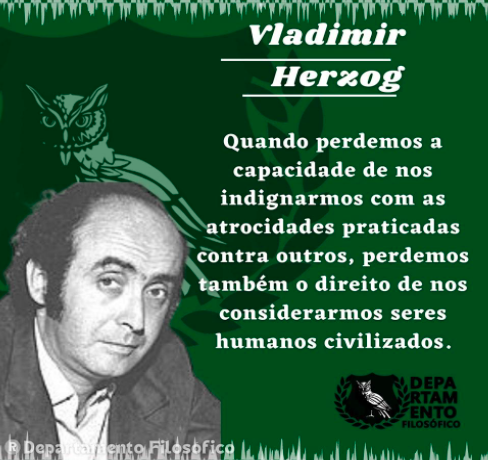Curuípe, 6 de março de 2044
No Portugal de há vinte anos, estávamos na véspera de mais um ato eleitoral. A Democracia, o pior de todos os sistemas com exceção de todos os outros, que havia dado à luz nobres políticos e vis ditadores, estava prenhe de promessas de mundo novo e se frustrava com nados mortos. Nos mais recônditos escaninhos de um sistema político aliado de um sistema educacional hierárquico, autoritário, intelectual e moralmente corrupto, se reproduziam injustiças, desigualdades. Tais sistemas não poderiam engendrar algo que não fosse corrupto e autoritário, e a Escola de Cidadãos atravessava tempos sombrios.
Nas duas margens do Atlântico, era tempo de, mais uma vez, analisar os programas dos partidos candidatos às legislativas. No domínio da Educação, os programas não visavam o exercício de uma democracia parlamentar, eram arremedos de democracia para lamentar. A maioria desses programas era um deserto de ideias. Um deles roçava a indigência mental, quando apelava à introdução de mais exames.
Hei-de voltar ao assunto. Por hoje, deixo-vos com excertos de um artigo do mestre Philippe Meirieu:
“O preço, o valor e aberração dos exames”
“Com o termo do ano escolar chega a época de exames. Último rito iniciático oficial depois do desaparecimento do serviço militar obrigatório e da comunhão solene. Os jornalistas, os intelectuais, as vedetas do showbiz não deixam, nesta ocasião, de dar prodigamente os seus famosos conselhos quanto à forma de se preparar para o grande dia.
Gostaríamos muito de vê-los estigmatizar, ao lado da corrida para o proveito, a corrida à nota. Gostaríamos de vê-los mais vezes criticar aqueles que trocam o empinanço estéril por certificados de conformidade, preparando assim os nossos filhos, silenciosamente, mas de forma muito eficaz, para se submeterem ao valor supremo: o arrivismo individualista.
Quem dirá o mal que engendra esta ignorância? Quem gritará suficientemente alto para denunciar a impostura de uma sociedade que priva os alunos com mais dificuldades de disciplinas artísticas, deixando que acedam ao ensino superior sabendo perfeitamente que essa impostura se desembaraçará desses alunos em poucas semanas ou em poucos meses?
Não se mede a amargura e o rancor que desta maneira se desenvolve. Ignora-se o custo social a médio e a longo prazo de um sistema que erige desta forma o desprezo em regra de funcionamento.
Mas, para lá destes fenómenos tristes, temos também de nos interrogar quanto à conceção do exame que progressivamente se foi impondo.
O exame é reduzido a uma operação comercial, a um empinanço de alguns meses ou semanas onde, com a ajuda de uma literatura para-escolar que invade as prateleiras das nossas livrarias, se organiza um simples “reenvio ao remetente” de conhecimentos rapidamente memorizados e rapidamente esquecidos. Aprende-se assim a “limitar os estragos”, a servir ao examinador aquilo que se supõe que ele está a pedir – sem compreendermos sempre o seu sentido e o seu alcance – e que nos apressamos a esquecer.
Esta “pedagogia bancária”, como dizia o pedagogo brasileiro Paulo Freire, é a própria negação da inteligência. Reduz o sistema escolar a uma máquina absurda. A escola só ensina uma coisa aos alunos: a ter sucesso na escola! E, finalmente, apenas a habilidade para se submeter aos códigos mais ou menos explícitos da instituição é que “faz a diferença”: a diferença entre aqueles que estão prometidos a um bom destino social e aqueles que trabalharão duro saltando de pequeno emprego em pequeno emprego. Como pudemos chegar aqui?”
Como pudemos?
Por: José Pacheco