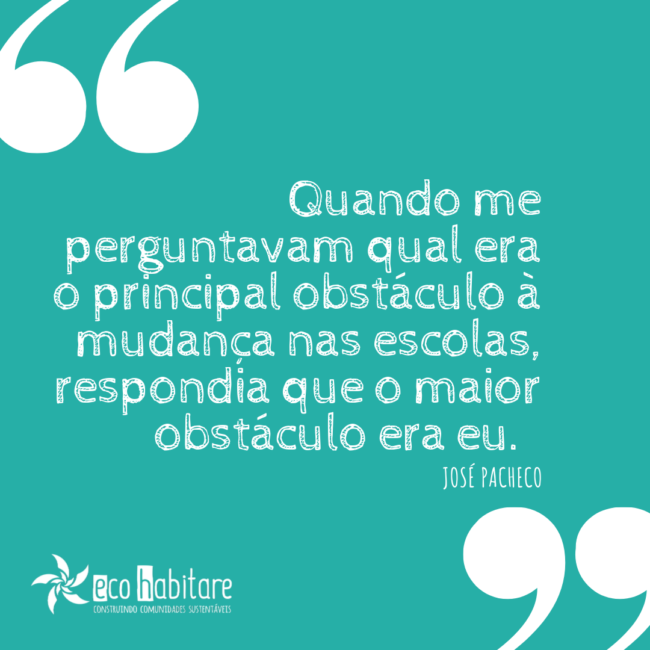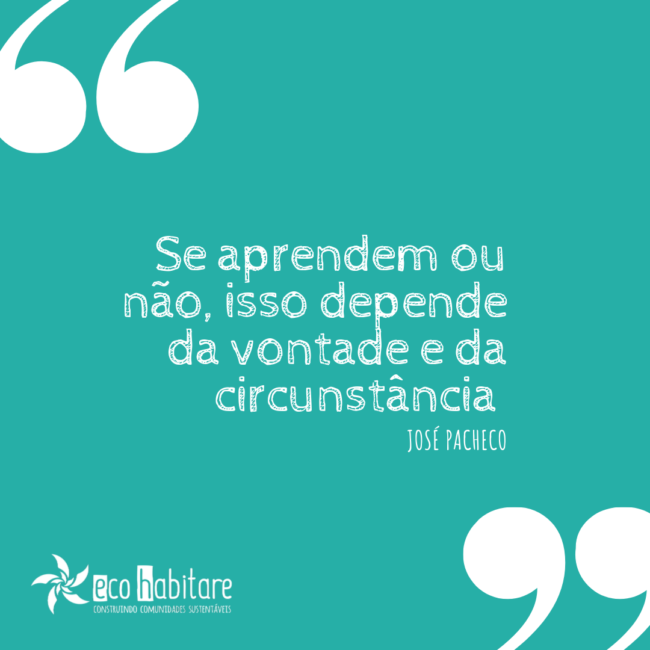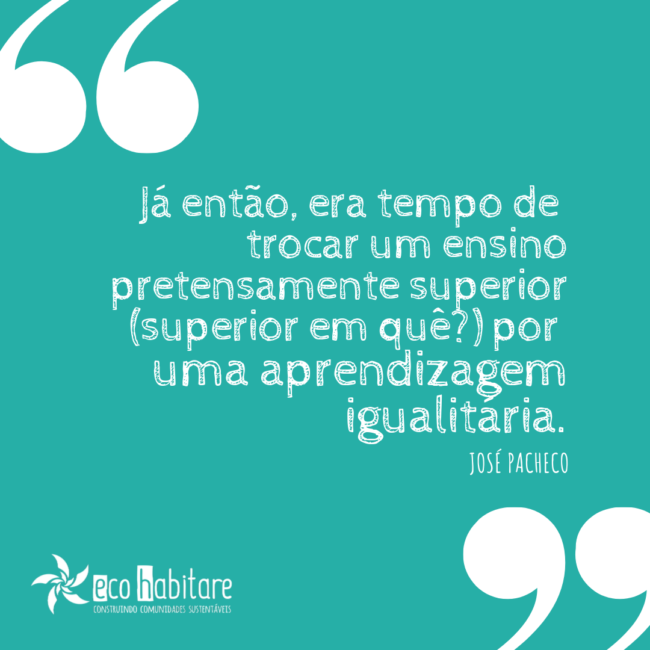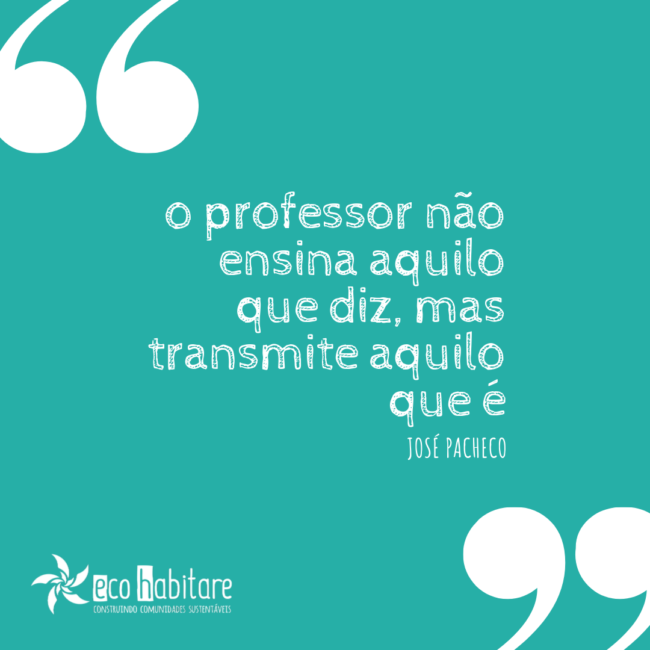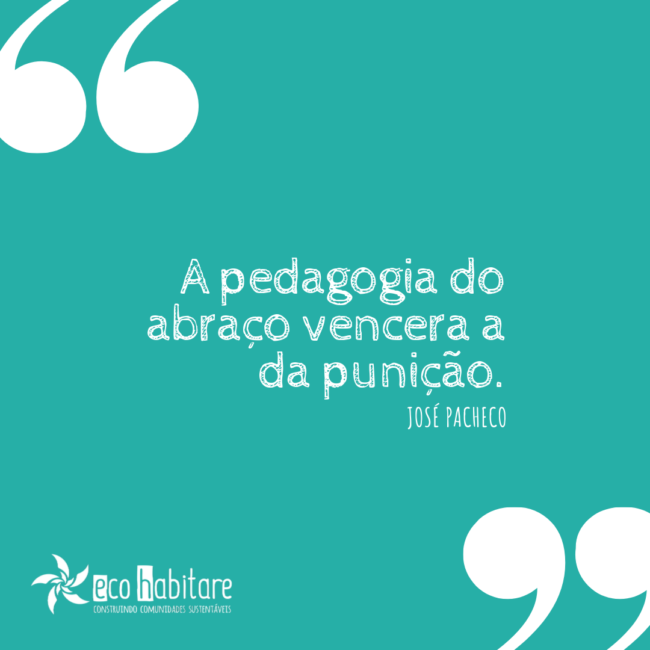Vargem Grande Paulista, setembro de 2039,
E aqui estamos, vós em Portugal e o vosso avô já regressado aos brasis, para assistirmos ao desfecho do episódio narrado na missiva anterior.
A Licinha e as companheiras estavam quase a desistir. A praga do pai do Chico Melro – que era o opinion maker da aldeia – arrastava os restantes para uma conclusão lógica e em tudo oposta às intenções das professoras. Isto é, sem livro de leituras ou de fichas, as criancinhas nunca haviam de chegar a doutores. As novas professoras deveriam seguir o exemplo da Dona Ofélia, mestra de gerações, que nunca se esquecia de rezar as orações que encimavam as páginas do livro único de leituras e de mandar fazer leitura continuada, enquanto corrigia as lousas e as sebentas. Ela é que sabia. E todos naquela sala lhe haviam passado pelas mãos (em sentido literal, aliás…).
Quase vencidas pelo pai do Chico Melro, as professoras ainda esboçaram uma terceira tentativa. O derradeiro e rebuscado argumento utilizado era o do desperdício que significa comprar vinte ou trinta livros todos iguais, se os alunos poderiam beneficiar do acesso a diferentes leituras, se comprassem livros de histórias, ou temáticos.
Se esta é uma ideia difícil de dar a entender a “especialistas”, era missão quase impossível de passar a pais. Mas, como se virá a concluir, tal como os professores, os pais dos alunos das nossas escolas eram seres inteligentes. E se tudo lhes fosse explicado de modo que entendessem, acabariam por perceber que as coisa não têm de ser como sempre foram.
Então, a Licinha interpelou a mãe da Ritinha, que já dormitava na última fila de carteiras:
Ó senhora Adélia, a senhora comprou a “Caras” desta semana?
Com certeza, minha senhora, mas em que é que isso vem ao caso?
Diga-me quantas pessoas são lá em casa.
Ora bem, somos eu, o meu Carlos, quatro filhinhos, o meu sogro (fora a minha sogra que Deus a tenha em eterno descanso…), mais os meus pais que ainda são vivos, graças a Deus, minha senhora. Mas olhe que não a estou a perceber…
Eu já lhe explico. Então, são nove pessoas ao todo, não é?
É, sim, minha senhora.
E a Dona Adélia só comprou uma revista?
Então, quantas havia de comprar? – retorquiu a Dona Adélia.
Não comprou nove, pois não? – atirou a Licinha, triunfante.
Agora é que você me lixou! – concluiu a D. Adélia.
Entendi, minha senhora. Você é professora, você é que sabe… – disse o pai do Chico Melro.
A assembleia não tugiu nem mugiu. E dali se foi a Licinha, ao encontro da Dona Glória.
Quando me perguntavam qual era o principal obstáculo à mudança nas escolas, respondia que o maior obstáculo era eu. O maior obstáculo era a minha cultura, era a cultura pessoal e profissional dos professores, que deveria ser somada à representação que as famílias e a sociedade tinham de escola.
Se os pais amavam os seus filhos e para eles desejavam o melhor, se os professores amavam os seus alunos e para eles queriam o que de melhor houvesse, a reelaboração cultural aconteceria.
Recordais-vos da carta anterior? Da troca de colheres mal não viria ao mundo e a Dona Glória poderia continuar essa troca até a último dos seus dias. Mas, o desfecho desse episódio poderia ser metaforicamente explicado. No dia seguinte, a professora Licinha mudou de tática: ao sair de casa, deixou a xícara com o café sobre a mesa da cozinha, sem a colher do açúcar e… sem a colher do café.
Em próxima carta, tentarei fazer uma moral da história. Mas podereis fazer a vossa moral…
Com Amor, o vosso avô José.
Por: José Pacheco