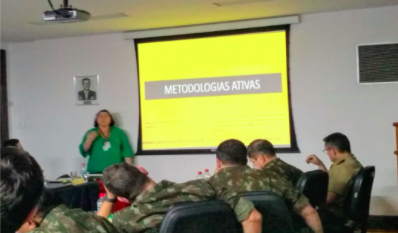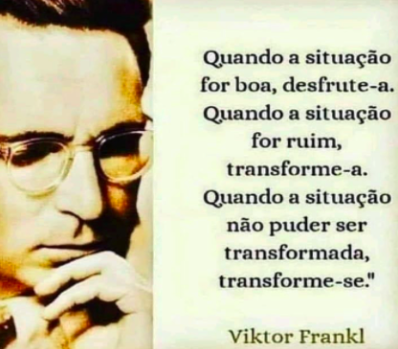Amora, 10 de setembro de 2041
Rubem Alves propunha que a educação fosse romântica. E eu lhe propus que fosse, também, conspiradora. Sob esse signo, em 2004, nasceram os “Românticos Conspiradores”. Em 2013, eles elaboraram o “Terceiro Manifesto da Educação”. Esse documento foi aprovado na primeira C.O.N.A.N.E. – Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação – e acolhido pelo Ministro da Educação, na pessoa da minha amiga Jaqueline Moll.
A Jaqueline foi uma das subscritoras do “Manifesto para uma Educação Democrática e Humanizadora”, de 2021. Eu acompanhara o excelente trabalho que ela havia desenvolvido no “Mais Educação”. E me orgulhava por estar ao lado dela e de outros admiráveis mestres, na assinatura desse manifesto.
Nesse já distante 2001, pedi à Tina e à Amanda que o enviassem aos mais de mil educadores que, direta ou indiretamente, participavam do processo formativo de criação de protótipos de comunidade de aprendizagem. E convidei esses educadores para o subscrever. Porque o texto era um convite à participação:
“Nós, professores e pesquisadores envolvidos em projetos e ações para uma educação democrática e humanizadora, queremos expressar aqui nossas preocupações em relação ao trabalho dos educadores em face do que vem acontecendo, neste momento, em nosso país, na política, na economia e, principalmente, na saúde e na educação.”
A elaboração do documento fora, também, um freiriano gesto de denúncia e anúncio, um ato de coragem:
“Em nome dos valores que compartilhamos em relação à vida, à saúde, à educação, ao ambiente, queremos expressar neste Manifesto nosso profundo desacordo com o que vem acontecendo em nosso país no campo político, econômico, cultural, sanitário e educacional e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos educadores brasileiros sobre os retrocessos atuais, principalmente nas áreas da educação e da escola.”
O manifesto denunciava “o desconhecimento por parte das autoridades do governo e dos políticos do Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação 2014-2024”. Uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais revelara uma realidade preocupante. O Brasil apenas cumprira uma das vinte metas previstas para serem atingidas, entre 2014 e 2024. As restantes estavam longe de serem alcançadas ou apenas parcialmente tinham sido cumpridas.
A única meta integralmente atingida no PNE era aquela que se referia à formação de professores do ensino superior. E dessa nem é bom falar! O vosso avô teria muito que dizer sobre a deformação que se fazia. Se quiserdes, talvez o faça, mas em outra cartinha.
A crise gerada pela pandemia de Covid-19 “tinha as costas largas”, fora apontada como possível causa de afetação dos números do plano:
“Em que a pandemia influenciará o próximo período é uma incógnita” – rezava o relatório do Inep – “Não é resposta simples de se obter, para onde estamos indo.”
Essa ambiguidade não conseguia disfarçar a realidade – estávamos indo para “o fundo do poço”, como dissera um ministro. Quando deveriam procurar a sua maioridade educacional na obra de um Milton Santos, ou de uma Maria Nilde, os educadores brasileiros insistiam em importar inovações requentadas, de comprar gato por lebre, desde que o gato fosse estrangeiro.
Por falar em gato, recordemos Lewis Carroll, que pôs a Alice à conversa com o felino:
“Podes dizer-me, por favor, que caminho hei-de seguir?
“Isso depende muito do sítio onde queres chegar.” – respondeu o Gato.
“Não me preocupa muito onde vou chegar”.
“Então, não interessa por que caminho hás-de seguir.”
Por: José Pacheco