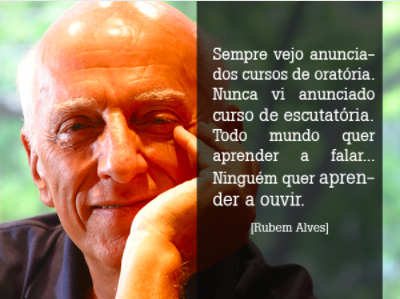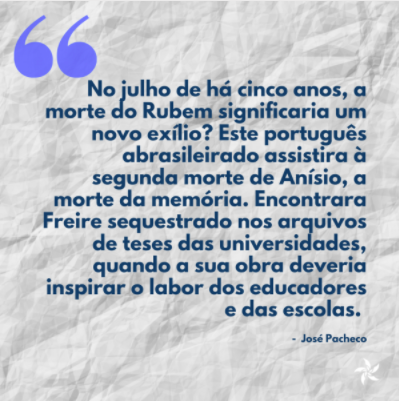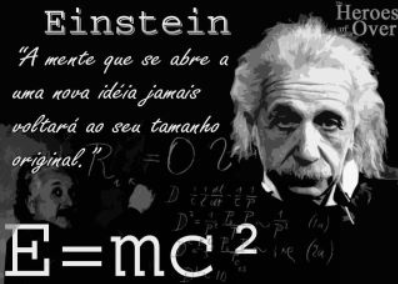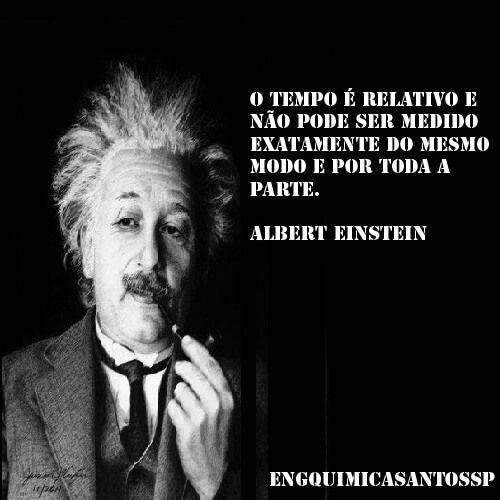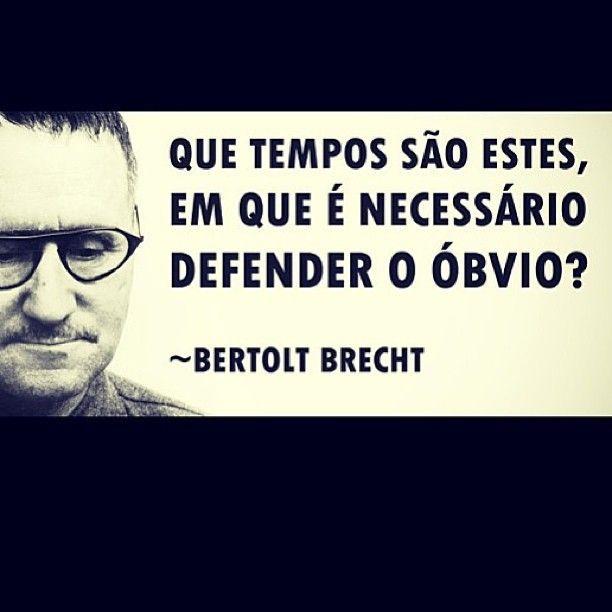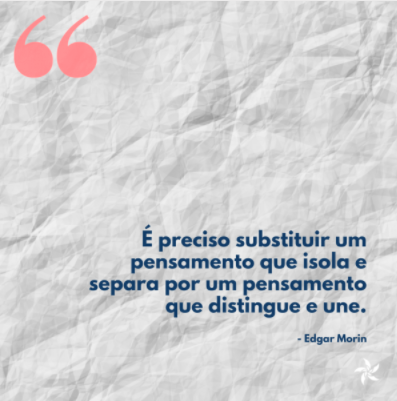Sabaúna, 9 de julho de 2041
Se o ser humano manifesta limites, possui, também potencialidades, que poderão, ou não, ser desenvolvidas e expressas a partir de ocorrências transformadoras. Foi no contexto dos processos de uma formação transformadora, que me redescobri herdeiro de uma herança crítica de professor primário a quem a Sociologia, a Psicologia, a História da Educação e outras ciências tocaram, num percurso profissional já meio feito.
Não era a experiência, enquanto tal, que contava, mas as aprendizagens que comportavam uma dimensão teórica e prática. O diálogo entre experiências complementares não consistia numa simples troca de conhecimentos empíricos. Era um exercício rigoroso, onde se jogava a totalidade da pessoa. A utopia fazia apelo a exigências antropológicas fundamentais, expressava o conflito entre concepções de Homem e de sociedade.
Ao cabo de vinte anos de Ponte, numa faculdade, me fizeram mestre. Percebi que aquilo que, na Ponte, havíamos feito com amor, desvelo e intuição pedagógica, também tinha fundamento teórico. E, desgostado, compreendi que os meus formadores universitários não praticavam a teoria que propagavam. Alguns tinham passado pelo chão de escolas, onde tinham tentado inovar. Em vão o fizeram. Desistiram de tentar. Se doutoraram. E se fizeram professores universitários.
Eram pessoas de alto gabarito intelectual, autores de vasta bibliografia e, entre eles, até contava alguns amigos. Vivêramos trajetórias trocadas. Fizeramos escolhas. Eles optaram por debitar teoria do alto da cátedra. Eu optara pela práxis (a prática com teoria) do chão das escolas. Abdicando de comparações maniqueístas, com extrema compaixão, busquei remir as suas contradições e incoerências. Reconhecia o mérito desses mestres e com eles aprendia. Mas, não fui capaz de lhes perdoar omissões perante a prepotência de lideranças tóxicas. Nem a perversa cumplicidade com burocratas ministeriais. Para eles, eu passara a ser um “incômodo”.
No tempo da Covid-19, com o apoio de áulicos, a formação assumiu um caráter literalmente virtual (no sentido de meramente teórico). A Internet se enxameara de empresas, sistemas de ensino e outras agências de deformação de professores, quase exclusivamente, sustentadas na modalidade curso, numa concepção autoritária, uniformizadora e anacrónica da ação pedagógica, incapaz de operar mudanças, ou de criar condições de inovação.
Atento à inutilidade da formação, que então se fazia, o amigo André aquiesceu a incluir no plano de formação da secretaria de Mogi um processo de reelaboração da cultura profissional dos professores, a que foi dado o nome de “aprender em comunidade”. Isomorficamente, homeopaticamente, círculos de estudo delineavam contornos de “círculos de aprendizagem”. Os processos de autoformação em equipe contemplavam a humanidade dos educadores, sendo coerentes com a indivisibilidade das dimensões biológica, mental e espiritual de cada pessoa.
A minha amiga Bianca tinha consciência da importância das mudanças operadas em Mogi. E me brindava com solidárias palavras:
“Fiquei tão feliz com o Projeto que está nascendo em Mogi. Gosto de quem faz e não fica esperando acontecer! A Mogi desejo prosperidade. Às crianças eu digo: No início é difícil, mas com o tempo vão ver que era tudo que vocês sonham e merecem aprender a estudar. Aos pais desejo que não sejam tacanhos e que elogiem cada progresso. Aos profissionais de Mogi o meu carinho, a minha energia dourada, para os iluminar. E que o André e a vice-prefeita sintam o nosso ombro amigo”.
Por: José Pacheco