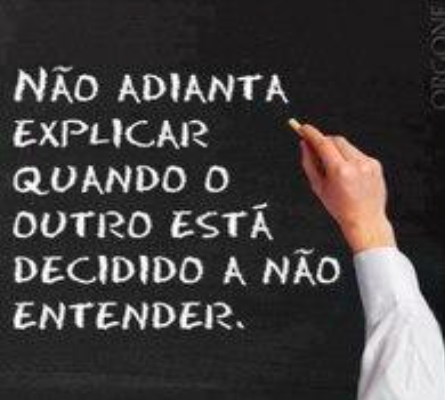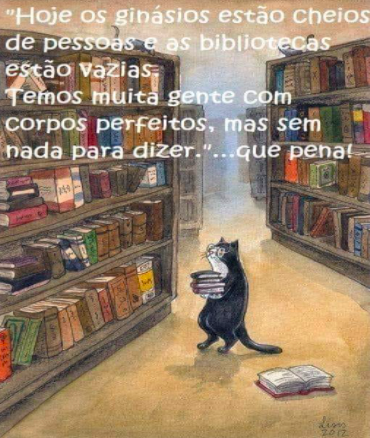Vilarinho, 8 de abril de 2042
Continuando uma breve análise da Lei de Bases do Sistema Educativo, identifiquei outro ponto do artigo 48.º, ainda por cumprir:
“Em cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos de educação e ensino a administração e gestão orientam-se por princípios de democraticidade e de participação de todos os implicados no processo educativo”.
Decorridos 36 anos sobre a aprovação da lei, as escolas mantinham-se cativas de uma administração centralizada e centralizadora. A gestão pecava pelo autoritarismo de órgãos unipessoais. A democraticidade era miragem, porque prevalecia o “dever de obediência hierárquica” sobre critérios de natureza pedagógica. E a “participação de todos os implicados no processo educativo” estava reduzida a um Conselho Geral manipulado.
Numa perspectiva política, Mintzberg afirmava ser a organização escolar “uma arena onde a política domina e os detentores de influência rivalizam entre si e perseguem fins pessoais”.
French e Raven realçavam “o poder de especialista, resultante do domínio técnico das operações a que se dedica a organização e o poder autoritário decorrente de posição hierárquica detida pelos sujeitos.
O João Formosinho referia que o poder normativo era o contexto de legitimação dos vários tipos de poder, sobretudo do autoritário.
O Matias Alves denunciava que as estruturas formais, os regulamentos e os discursos se assumiam como “dispositivos de legitimação, que pretendiam fazer crer que a escola cumpria a sua missão instrutiva e educacional, procurando-se ocultar ou tornar invisíveis os sinais da sua ineficácia.
E o Weick dizia ser a escola uma instituição “debilmente articulada”, caraterizada pela debilidade entre os fins proclamados e as funções realmente praticadas.
Na segunda década deste século, uma pesquisa concluía que:
A integração dos pais no CGE teria de “considerar o contexto de uma centralização burocrática do poder’.
Devido à falta de “preparação técnica” de muitos dos seus membros, o Conselho Geral não reunia condições de se assumir como o órgão de definição da orientação estratégica da escola”. Na visão dos pais, o Conselho Geral assumia, sobretudo, “uma dimensão burocrática, estando assim ausente uma ação estratégica e tornando problemática a melhoria das práticas educativas”.
Como vedes, queridos netos, uma perversa máquina burocrática – que dava pelo nome de ministério da educação – criava ardis para suprimir quaisquer tentativas de autonomização das escolas. A criação de um órgão, à partida, considerado reforçador de autonomia, desde o início demonstrou ser mais um empecilho à sua prática. Valerá a pena recordar as palavras de um amigo:
“A Escola da Ponte é talvez o exemplo mais marcante de uma escola com sentido, com a qual temos muito a aprender. E é possível aprender com ela, não apenas nas suas dimensões endógenas, mas também sobre os mecanismos das reformas educativas e de outras decisões do ministério que frequentemente criam dificuldades, inviabilizam e até destroem projetos inovadores, tal como está a acontecer hoje em relação ao projeto “Fazer a Ponte”.
A lógica de reforma é mecanismo inibidor da transformação da escola. As reformas educativas são apresentadas como um desígnio nacional, com base no argumento de que o país tem pela frente o desafio da modernização. Porém, sob a aparência de liberdade criada pela retórica da flexibilidade e da autonomia, emergem novas formas de controlo, que impregnam as subjetividades dos professores e afetam as condições de trabalho e de vida nas escolas”.
Por: José Pacheco