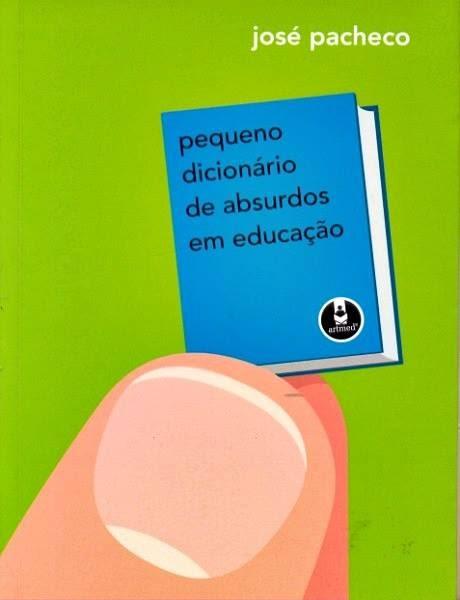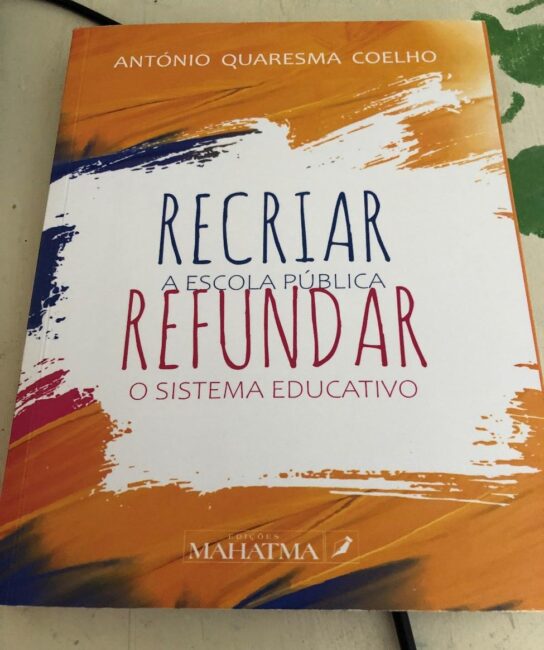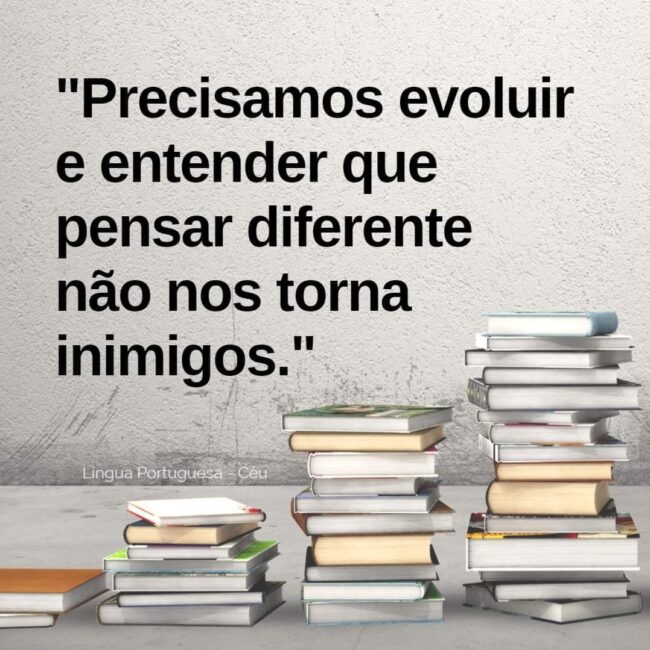Apucarana, 23 de novembro de 2042
Ontem, completaram-se vinte anos sobre o dia em que o Erasmo e o Pablo partiram para o seu lugar etéreo. Não tarda, também partirei. Mas ficai sabendo que partirei sob protesto. Agora, que tempos sombrios se dissiparam, será injusto ter de partir.
Há duas décadas, a situação política era preocupante. Um Governo de Transição lidava com dificuldades de recuperação económica, mas as notícias que nos chegavam sobre os destinos da Educação também não auguravam nada de bom.
Insistia-se em medidas de política educacional, que já se tinham revelado inúteis no passado, como o “Efeito Sobral”, fenómeno de má memória, assim descrito pelo Luiz Carlos:
“A reforma empresarial da educação opera por “mantras” que nunca se concretizam, mas que encantam os formuladores de política defensores da economia de mercado e seus instrumentos de competição e concorrência (…) A política é mais conhecida pelos “resultados” de Sobral, que obtém índices elevadíssimos em avaliações no IDEB.
Esta estratégia foi amplamente usada nas políticas americanas como o “No Child Left Behind”. Como aqui ela não vem acompanhada das consequências fortes que lá existiam (incluindo até mesmo o fechamento de escolas com baixo desempenho), e é configurada com a tentativa de carregar a desigualdade para dentro do indicador de resultados visando sua diminuição, a argumentação será a de que ela é diferente.
Mas, ela contém o essencial, o princípio behaviorista do “condicionamento operante”, ou seja, faça o que eu quero e eu libero “reforço po$itivo” para você. A ideia, porém, opera com um à priori equivocado, como bem aponta Ravitch: assume-se que nota mais alta é sinônimo de boa educação.
O GT da Transição já incluiu em sua pauta uma discussão do alinhamento das avaliações de larga escala entre o IDEB e as avaliações de estados e municípios.
Talvez estejamos diante da configuração de uma das maiores máquinas de pressão sobre Estados e Municípios. Os atingidos diretamente por estas políticas serão os professores e os estudantes que estão no final da escala de pressão. O prejuízo à autonomia do magistério, que precisa dela para lidar com a diversidade de desempenhos, será ampliado, especialmente, quando combinado com a nova moda do ensino híbrido ancorado em plataformas de aprendizagem.
Os estudantes estarão sendo “treinados” para avaliações de larga escala nestas plataformas em uma longa série de “simulados” e testagens frequentes destinadas a “render” mais ICMS. Estudantes de menor desempenho (incluídos aí os com necessidades especiais) serão estimulados a procurarem outras escolas e a profissão de professor será duramente impactada e desestimulada, ampliando os problemas já existentes.”
Nessa conjuntura, enquanto qualquer esboço de inovação era rejeitado pela administração educacional, muitos disparates pedagógicos eram adotados. No Estado de São Paulo, o governador sancionou a lei do novo ICMS Educacional. Dizia ele:
“Grandes avanços na Educação (…) a gente torce para que o próximo governo faça ainda mais.”
O “fazer ainda mais” seria aumentar do percentual de repasse condicionado a desempenho para percentuais maiores. E a desempenhos menores corresponderiam repasses menores.
A ingenuidade pedagógica dos administradores do “sistema” nos conduzia a nefastas consequências. E esses efeitos nefastos constavam da literatura disponível. Por isso, me quedei na expectativa de que algum académico das ciências da educação, conhecedor das teorias, os explicitasse aos administradores.
Mas… quem reagiu?