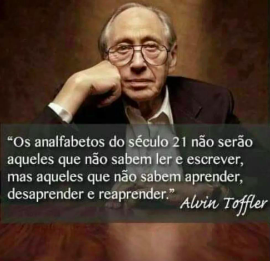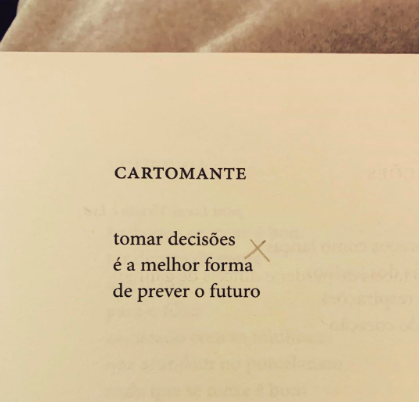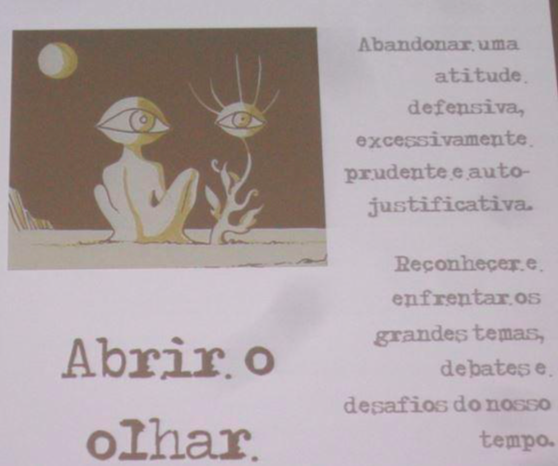Albufeira, 18 de fevereiro de 2044
É domingo. Como sempre faço, queridos netos, emprego este tempo de ócio tentando pôr em dia a correspondência e atendendo a algumas solicitações de ajuda. Mesmo já sendo nonagenário, mantenho este solidário ritual.
Hoje, recordei dois domingos. O primeiro, de há 40 anos, um domingo feliz passado num congresso, convivendo com o amigo Rubem (encontrei uma foto no baú das velharias e o juntei a esta cartinha). O outro, um infeliz domingo do mês de fevereiro de há 20 anos, quando se aproximava o tempo da minha discreta “retirada da cena educacional”.
No mês de maio de dois mil e vinte e dois, uma secretaria de educação enviou-me um “termo de referência”, no qual me pedia ajuda para ”implantação do projeto Comunidades de Aprendizagem”. Eis alguns trechos desse documento, itens do Plano Municipal de Educação desse município:
“(…) instituirá um Grupo de Trabalho para a proposição de Diretrizes de Política Pública para Implementação de uma rede de protótipos de Comunidades de Aprendizagem em nove escolas da Rede Pública Municipal, tendo como mote a construção coletiva do projeto político pedagógico, com viés holístico, democrático e emancipador do cidadão, envolvendo a comunidade e a escola.
Na comunidade de aprendizagem, conteúdos serão ferramentas que surgirão dos valores construídos pela comunidade escolar, com o objetivo de criar e fortalecer ações críticas e criativas entre todos os personagens que convivem nos ambientes de aprendizagem.
A organização do trabalho centrar-se-á num sistema de relações que atenderá as necessidades do educando e da comunidade, no desenvolvimento de atividades de construção de projetos de vida.
Porque o entender que a educação extrapola os muros da sala de aula, sendo realizada na vida vivida, em diversos momentos e múltiplos lugares, é necessária a ressignificação do próprio ambiente escolar: a escola deixa de ser o único espaço educativo para se tornar uma articuladora e organizadora de muitas outras oportunidades educacionais, no território da comunidade.
Na transição para práticas fundadas no paradigma da comunicação, os educadores participarão do desenho de novas construções sociais de aprendizagem.”
Reuni com a secretaria, disse que ajudaria. Expliquei o que deveria ser feito. A secretaria aceitou a proposta.
Andei, de escola em escola, gratuitamente, ajudando educadores coerentes com o seu Plano Municipal de Educação. Um GT viria a ser criado, um “Termo de Autonomia” fora aprovado. A secretaria elogiou o projeto, publicitou os bons resultados obtidos. Porém, quase dois anos decorridos, quase tudo estava por fazer.
Nessa secretaria (como em muitas outras), eu vinha perguntando quando regressaríamos ao aprimoramento dos projetos que nos propuséramos desenvolver. Naquele tempo, não faltavam pretextos para os interromper projetos: ou era um ministério que iria mudar de mãos, ou “os professores estão em férias, ou “o senhor diretor não tem agenda”, ou… “só depois do Carnaval”.
Já estávamos depois do Carnaval. Só faltava saber as verdadeiras razões de adiamentos e… recomeçar.
Recomeçamos, enviando a pais, a professores, a diretores e a todos os cidadãos, que decidissem assumir um compromisso ético com a Educação um convite, que a Zizi elaborou com esmero.
Nele se dizia que, pelas onze horas brasileiras do dia 24 de fevereiro, se realizaria o encontro preparatório de muitos outros encontros, que nos conduziriam à prática refletida de uma nova construção social de aprendizagem.
Em próximas cartinhas, vos direi o que sucedeu.
Por: José Pacheco