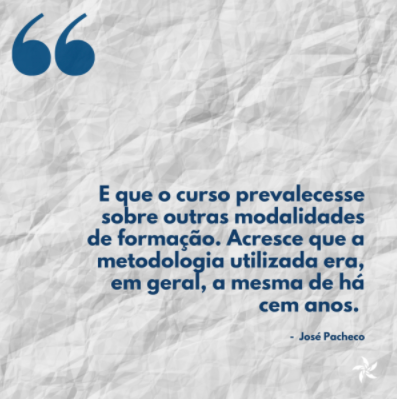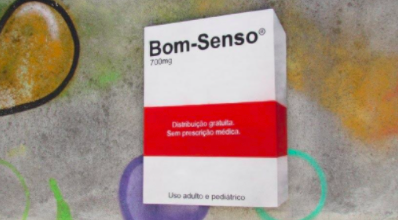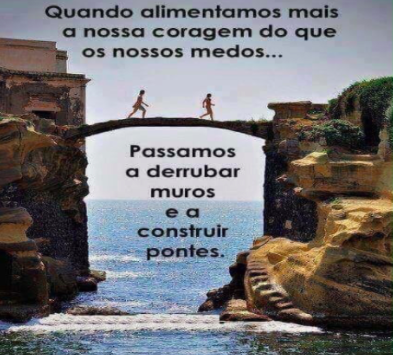Coruípe, 8 de março de 2041
No mês de março de há vinte anos, duas notícias me devolveram alguma esperança. Na cidade de Taiz de um Yemen fustigado pela guerra, um menino cego, de nove anos de idade, assumira o papel de professor, a partir do momento em que os professores, não sendo pagos, deixaram de frequentar as salas de aula. Nas ruinas de prédio de escola destruída por bombas, Ahmed recebia outras crianças e delas cuidava. No mesmo mês, a midia sensacionalista apropriava-se do exemplo da Érika, jovem de doze anos de idade, que, nos cafundós do Brasil, instalara a sua “escolinha”.
Coelho Neto foi escritor, político, professor brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e membro ativo das campanhas abolicionista e republicana. Coelho Neto deu o seu nome ao município maranhense, onde, no decurso da pandemia e no meio da extrema pobreza, a jovem Érika rompeu com a resignação. Vítima de uma sociedade desigual, evocava um dos mais fundamentais direitos humanos. Escutêmo-la:
“Toda a criança tem o direito de brincar. Toda criança tem o direito de estudar”.
A Érika tomara consciência de que esse direito lhe era negado. intuitivamente, se apercebeu de que era vítima de abandono intelectual:
“As crianças andavam sem nada que fazer, sem ter uma leitura, sem ter uma pessoa que as apoiasse”.
Durante uma reportagem, enquanto uma jornalista falava dos “vídeos da menina professora, que viralizaram nas redes sociais”, a mãe da Érika evocava um marido, que chorava por não ter que comer e de dar de comer aos seus filhos.
“O meu sonho é fazer advocacia, ter um lar digno, melhor e a escolinha bem apresentada, bem ventilada, para poder mostrar às pessoas que o sonho da gente não é impossível. Chorar não adianta nada. É melhor tentar do que ficando a chorar, de cabeça baixa. E você, mesmo sendo adulto, nunca vai deixar de ser criança” – Quanta sabedoria contida num corpo franzino de jovem de periferia da periferia!
“A Érika se lembra de como era difícil se concentrar durante as aulas. Porque havia muitos problemas. Havia goteiras, entrava água…” – comentava a jornalista – “Do lixo veio alimento, mesas, lápis, mas a Escola da Esperança e o lar da família foram demolidas. Vão ser reconstruídas”.
O assistencialismo oportunista quase conseguiu apropriar-se do fenômeno Érika. Uma prefeitura boazinha já tomara “todas as providências em relação à construção da casa”. A Érika e a mãe “receberiam ajuda da Assistência Social”.
Num longo e-mail, a minha amiga Maria manifestava preocupação:
“Se eles só pegaram a “estrutura”, a tendência dela será seguir o ensino tradicional. Mas se, por acaso, fosse possível um contato com ela, assim que tivesse uma base de internet, poderia acontecer aí uma mudança significativa, a de construirmos com ela uma mudança de paradigma, auxiliando-a no sonho de ser advogada”.
O meu espírito se aquietou, quando companheiras e companheiros do projeto das “turmas-piloto” intervieram e estabeleceram contato com a Érika.. E quando na reportagem vi aparecer a diretora pedagógica da Casa Meio Norte, um projeto extraordinário, digno de atenção. .
Conheci a Escola Meio Norte, pouco tempo depois de ter chegado ao Brasil. Em Teresina não se falava de outra coisa. Escutando a Ruthnéia dizer que “a escola tem o papel de fazer a interseção com a comunidade, famílias e crianças”, me tranquilizei:
“A menina vai te apoio da Escola Meio Norte. Vamos trazer para a Érika um notebook. Ela vai pesquisar muito. A Érika é fruto da escola pública”.
Era bem verdade, o que dizia. Mas, cadê a “escola pública” a que a Ruthnéia se referia?
Por: José Pacheco