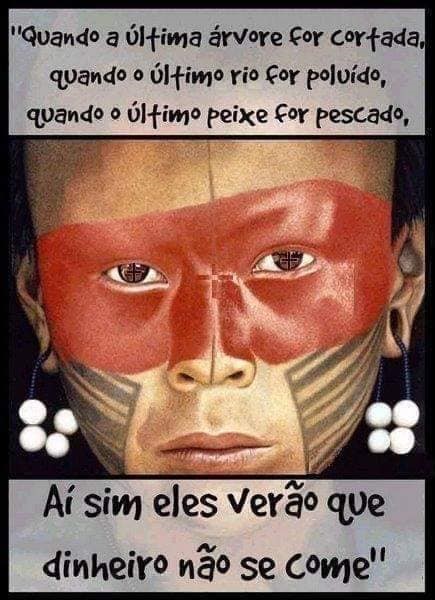Lagoa Grande, 27 de setembro de 2040
No fim de setembro, Reino Unido, França e outros países defrontavam recorde de novos casos de covid-19. a “segunda vaga”. Países africanos pediam ajuda para a sobrevivência das suas economias, ajuda contra a pandemia, que apelidaram de “quinto cavaleiro do apocalipse”.
Em Portugal, o Governo recusava revelar números de infecções em escolas, dado que irresponsável e teimosamente o ministério tinha imposto o “início do ano letivo”. No final da primeira semana de aulas, algumas escolas já tinham sido obrigadas a encerrar de forma temporária as suas “aulas”. Ou enviara alunos para casa, devido a manifestações de casos de covid-19. O ministério não revelava quantos casos de infecção foram verificados, quantas turmas foram colocadas em ensino à distância pelo mesmo motivo e quantos alunos estariam em isolamento social. “The show must go on”…
Como única resposta, a tutela explicou aos jornalistas que as escolas tinham autonomia para tomar decisões e não estavam obrigadas a reportar esses acontecimentos. Se esta informação não fosse grave, seria, no mínimo, ridícula. Escolas autônomas? Cadê? Diretores submetidos ao dever de obediência hierárquica “regressaram às aulas”, pois fora essa a inquestionável ordem dos seus “superiores hierárquicos”. Não eram autônomos, para proteger a vida e a saúde dos alunos, mas eram “autônomos”, para ocultar informações.
Quando lia nos projetos político-pedagógicos das escolas a palavra “autonomia”, inquiria os professores sobre como desenvolviam autonomia nos seus alunos. Não sabiam o que responder. Nas aulas, que diziam “dar”, o que se fomentava era heteronomia, submissão, obediência formal, passividade, conformismo.
O desenvolvimento da autonomia deveria resultar de um posicionamento ético face a uma antropo-pedagogia. Poder-se-ia considerar-se a busca de uma liberdade racional, uma liberdade pulsional, ou a integraçäo de ambas, na realizaçäo equilibrada do ser humano como indivíduo digno. Acrescia a necessidade de se considerar a dimensäo social. E, no domínio da autonomia do aluno, se a näo-directividade ingénua do escolanovismo descurava a influência da sociedade sobre o indivíduo, a pedagogia autoritária descurava a possibilidade de autonomia no educando.
Extremismos teóricos e fundamentalismos pedagógicos eram obstáculos à tarefa de dotar os jovens de uma apropriação crítica das condiçöes sociais do exercício da autonomia. Era frequente ouvir falar de “protagonismo juvenil”, enquanto escolas e ministérios brincavam ao faz-de-conta da autonomia.
Queridos netos, no tempo da pandemia, como antes dela, o conceito de liberdade estava embotado de equívocos. Mas o que era, concretamente, a liberdade de uma criança, ou de um jovem aluno? O meu amigo António, por exemplo, costumava dizer “o aluno não faz aquilo que quer, o aluno quer aquilo que faz”, causando a irritação dos incondicionais seguidores do Neill.
O exercício da autonomia conferia dignidade ao ato de aprender. Os alunos do António “faziam o que queriam, querendo fazer aquilo que faziam” – sabedoria de um mestre de chão de escola. O António não reduzia o aluno a mero objeto de ensinagem, o aluno agia como sujeito de aprendizagem.
Apontada como uma das competências essenciais do século XXI, o exercício da autonomia seria uma utopia realizável, mas nunca o seria no contexto da escola que tínhamos em 2020. Conscientes dessa impossibilidade, os núcleos de projeto apresentaram ao órgãos de direção propostas de “termos de autonomia”.
Por: José Pacheco