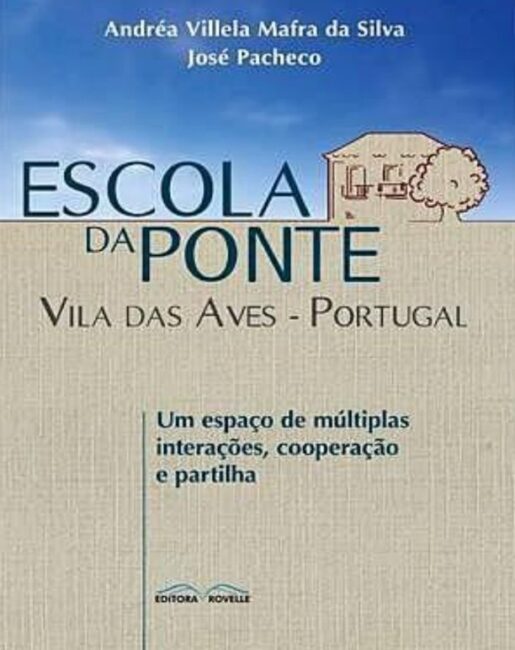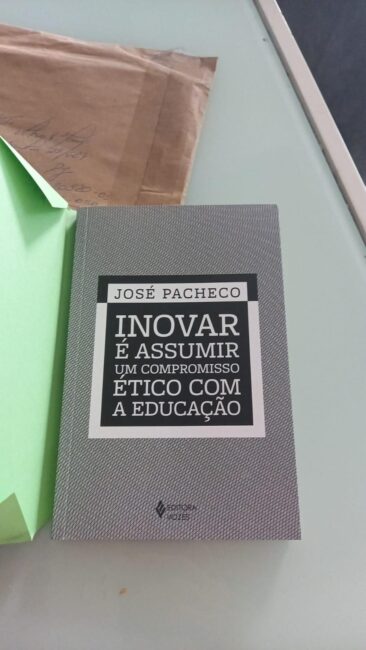Rio das Ostras, 12 de dezembro de 2042
Dissestes que a cartinha de ontem era “diferente” das outras e que preferis cartinhas “mais leves”. Tentarei, netos queridos, tornar mais leves as estórias e explicar o porquê da “diferença”.
2022 foi tempo de encruzilhados destinos, tempo de escolhas quase definitivas. Num cenário de agitação social, a esperança de dias melhores andava à solta. No final de dezembro se desenhavam dúbios futuros.
A Margareth fora indicada para cuidar das coisas da Cultura. A indicação para cuidar da Educação permanecia suspensa.
Já tinham passado por esse ministério muitos ignorantes das coisas da educação, corruptos e até terraplanistas. Qualquer que fosse a escolha, seria bem melhor do que as antecedentes. Porém, os nomes que o marketing promocional divulgava só contribuíam para aumentar a minha preocupação.
De uma lista de obstáculos à mudança e à inovação (de que, em breve, vos falarei) constava um sinistro personagem: o áulico. Na obra “O Brasil como Problema”, Darcy questionava:
“Quem implantou esse sistema perverso e pervertido?”
E propunha um diagnóstico dos obstáculos cruciais, que a nação brasileira precisaria ultrapassar, para se desenvolver.
Nesse livro, o maior dos obstáculos seria a nefasta ação de um certo tipo de intelectual alienado, colaboracionista num genocídio educacional caucionado por uma opinião pública acrítica e patrocinado por energúmenos da política, e até mesmo por… “professores”.
Os áulicos prosperavam, vivendo à sombra do poder, produzindo ideias irrelevantes, planos inconsequentes, contribuindo para destruir qualquer esboço de inovação.
Alguns áulicos manifestavam comportamentos antiéticos pois, sendo especialistas em ciências da educação, conhecedores dos maléficos efeitos de práticas fundadas no paradigma da instrução, contribuíam para as manter.
Em assessorias e coordenações de projetos da iniciativa do sistema, legitimavam paliativos do esclerosado modelo educacional, optavam por se venderem, pecando por omissão, cumprindo o vil papel de evitar que mudanças acontecessem.
Os áulicos controlavam estruturas do poder público, infestavam universidades, comissões de especialistas e se exibiam em gongóricas e anestesiantes palestras, nos palcos de inúteis congressos. E até se mancomunavam com abútricas empresas que, descarada e impunemente, invadiam a Internet com anúncios deste tipo:
“Ei, prof.! Se você der 30 aulas por semana, cobrando 40 reais por hora (fora planejamento e correções), isso gera 3 coisas no seu mês… Já ajudei mais de mil pessoas a transformar conhecimento em fonte de renda. Curso para produzir cursos online. Lucre desde o primeiro curso. Passo a passo para escalar o seu negócio e ganhar mais Dinheiro. Assim mesmo: Dinheiro com D maiúsculo! Como uma empresa de educação saiu de 0 para 4000 alunos em 12 meses. Metodologia Howeb de Aceleração de Vendas. Educador, o que você faria na escola com um prémio de 35 mil? As inscrições estão abertas.”
Anúncios deste tipo conspurcavam a comunicação social, se agravava a mercantilização da Escola Pública. Diante da avalanche de conteúdos homogeneizadores, negócios milionários com as redes públicas, anunciados como a salvação da educação nacional, só nos restava “fazer a nossa parte”. Enviámos à parte saudável da administração pública um “Plano de Inovação”. Propusemos ao ministério o reatamento do diálogo.
O monstro burocrático, a que chamavam “ministério”, aceitaria dialogar? O que poderíamos esperar do novo ministro, ou da nova ministra da educação?