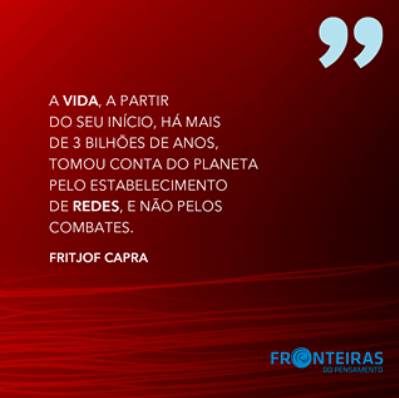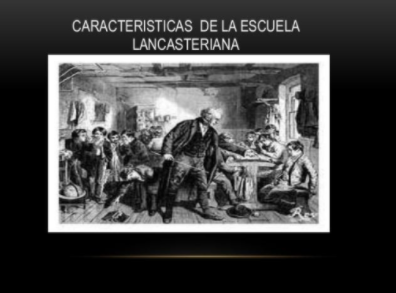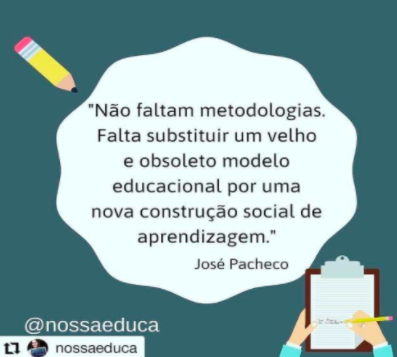Santo António de Lisboa, 18 de março de 2041
Hoje, confesso que senti algum receio nas viagens que fiz no tempo da pandemia, admito que foi temerário o meu gesto de deambular entre aeroportos, em aviões superlotados, de passar por rodoviárias e viajar em ônibus repletos de pessoas sem máscara protetora.
Em pleno pico da pandemia (ou da sindemia?) nos meus setenta anos, integrava o “grupo de risco” sem vacina no horizonte. Recebi inúmeras mensagens de gente amiga, que me aconselhavam a ficar em casa. Mas o vício da viagem solidária me impelia para espaços onde uma nova educação já acontecia. E fui até Floripa.
Me acolheram nas suas casas, comigo partilharam alimento do corpo e da alma.
O Gilvan, ser humano dotado de extraordinário bom-gosto musical e de outros dons, ofereceu-me um livro, que o seu pai, educador e poeta, quis que fosse meu. Fui cumulado de gentileza e carinho. Sobretudo pela Cecília, mulher de fortes convicções, incansável na tentativa de transformar em realidade uma nova visão de mundo. Mãe estremosa de uma jovem muito especial de delicado trato e vasta sensibilidade chamada Helena E do tímido e amoroso Thales, que me levou a conhecer a sua casa da árvore.
A Bárbara me foi buscar ao aeroporto de Floripa. Deixou-me com um molhinho de ervas, “para fazer um chá, que o senhor bem precisa”. Altas horas da noite, por ruas desertas, voltou para a sua casa, “lá no meio do mato”. Na manhã de partir para Porto Alegre, foi também ela quem me levou ao aeroporto, cuidando de me presentear com “alguma coisa para que se alimente bem, que bem precisa”.
Nessas viagens, eu só conhecia boa gente. Educadores devotados, seres humanos, que me davam lições de vida. A Agnis, chorando de emoção por estar na presença deste velho. A Juliana (“sem ypslon, sem dois eles, nem dois enes no nome”), atenta e disponível, a Amanda que, embora tivesse sintomas “talvez de covid”, ainda participou no primeiro dos encontros. A Ariadne, que viria a ter importante papel na consolidação do projeto da comunidade Cristal, na tela do ifone, porque, apesar de ter saído ilesa da covid, recentemente, não quis fazer-nos correr risco de a contrair. Os maravilhosos professores da Escola Albertina, uma escola da rede pública, onde o Eduardo e a Susana buscavam melhorar as suas práticas, vizinha de uma escola particular, que eu havia ajudado e confiava que regressasse a vias de mudança e inovação
Dei por min divagando por memórias de um tempo em que percorria o meu país, ao encontro daquilo que, mais tarde, seria conhecido pelo nome de “círculo de vizinhança”. Eram peculiares formas de mutualismo, no ganha-ganha de aprender com os outros, que um Morin dos idos de 77 comentava:
“A nossa necessidade histórica é a de encontrar um método que detecte e não oculte as ligações, articulações, solidariedades, implicações, imbricações, interdependências, complexidades”.
O isolamento físico e psicológico dos educadores de então engendrava insegurança e fomentava individualismo. No contacto fortuito com colegas do mesmo ofício dotados de outras experiências e outros saberes manifestavam atitudes de reserva, ou de objetiva recusa. O receio de pedir ajuda para a resolução de problemas concretos, de trabalhar em equipa, de trocar experiências, de partilhar o vivido, o receio de se exporem, constituíam outros tantos traços do perfil dos profissionais do “sistema de ensino”.
Aqueles a quem eu prestava ajuda, rumavam contra uma maré de loucura generalizada, buscando a substituição do “sistema e ensino” por redes de aprendizagem. Então, valia a pena correr o risco de viajar…
Por: José Pacheco