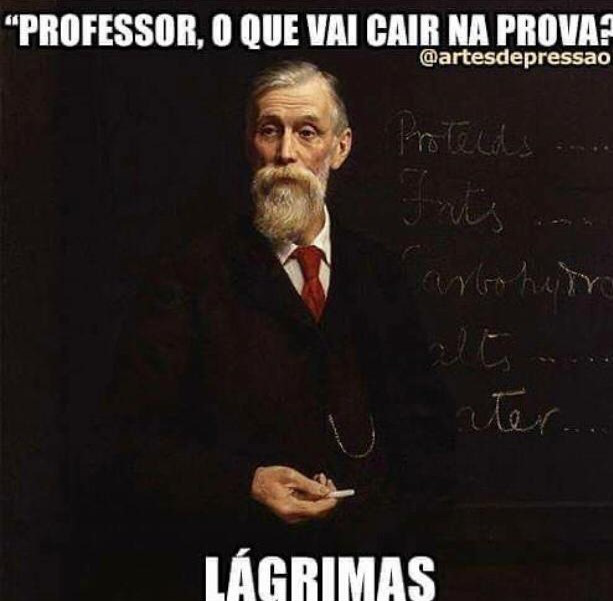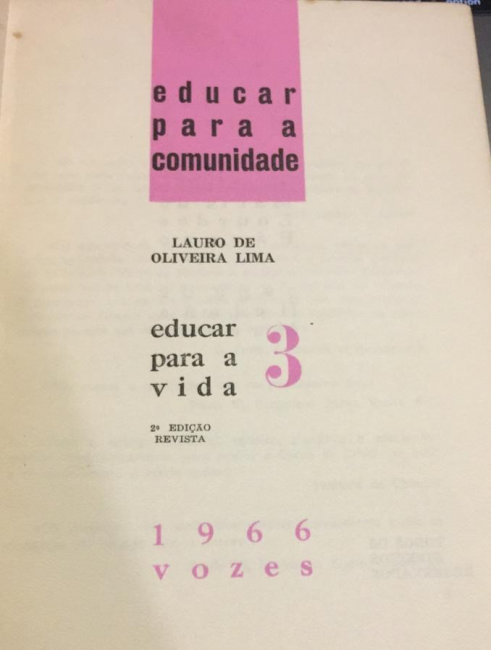São Gabriel, 6 de dezembro de 2040
A referência mais remota ao termo “currículo” remonta ao século XVII. E são várias as concepções de currículo, associadas a diferentes formas de se conceber a educação. Tradicionalmente, currículo é a seleção cultural de determinados conhecimentos e práticas. Mas não é só isso. É também o conjunto de experiências, vivências, procedimentos, opções metodológicas, modos de avaliação etc. etc.
Currículo é, pois, um conceito de vasto espectro semântico, de difícil unanimidade. Kelly, Goodlad, Gimênio Sacristán e muitos outros autores diferem na sua definição. Deparei com dezenas de definições, que são reflexo da época e do contexto sócio-político em que foram produzidas, ou da corrente pedagógica e teoria da aprendizagem em que estão filiadas. Perante este fato, remeto para a leitura das obras de diferentes teóricos, eximindo-me a reproduzi-las, dado que presumo que o leitor não seja analfabeto e porque tudo se encontra disponível na Internet. Apenas lhes acrescento algumas despretensiosas considerações, numa prosa acessível ao comum dos mortais (incluídos os especialistas, mais ou menos, especializados em currículo).
Na Finlândia, o processo de reforma do currículo envolveu todos os educadores do país. Como declarou a ministra da educação finlandesa:
“Para que o novo modelo seja bem-sucedido, os professores nas nossas escolas têm muita liberdade. E uma mudança curricular não poderia ser diferente. Não dizemos aos professores quais materiais devem usar, como ensinar. Eles têm de ter liberdade, porque são eles que sabem o que funciona melhor com cada aluno”.
E acrescentou:
“Além de o currículo focar nos projetos interdisciplinares, ele também avança no maior uso de ferramentas digitais em sala de aula. E esse processo de digitalização não significa apenas colocar um computador em sala de aula, mas usar essas ferramentas tecnológicas para aumentar e melhorar o processo de aprendizado”.
No Brasil, abriu-se uma consulta pública de um documento previamente elaborado. Milhões de sugestões de alteração, quase todas fundadas no senso comum foram colhidas, além de 27000 pedidos de inclusão de novos objetivos. Uma BNCC cativa do velho modelo escolar foi promulgada. E essa reforma acabou reformada, no chão das escolas.
Os discípulos do velho e esclerosado modelo educacional perdiam-se em tentativas de reforma reformadas. Enquanto a obsessão uniformizadora e seletiva da escola vinha sendo questionada por muitos “especialistas”, teoricistas instalados em torres de marfim induziram os políticos a acrescentar camadas de tinta nova em velhos palimpsestos, nos quais os registos primitivos não se apagaram. Até mesmo a euforia da introdução das novas tecnologias de informação e comunicação nas escolas concorreu para a sedimentação de velhas práticas.
No “Fórum das Comunidades”, criado no dezembro de 2020, perguntávamos:
Que razões sustentam a reprodução de um modelo de escola gerador de abandono intelectual e moral? A expressão “insucesso escolar” não se constitui em paradoxo? Como justificar a manutenção de referências teóricas com mais de um século? Até quando se insistirá em equívocos, naturalizações e ideias-feitas?
Sabemos que o caos precede a mudança. O Brasil passava por um período de caos político, de inversão de valores. Mas, a crise educacional era, também, geradora de oportunidades. Fazíamos a nós mesmos esta pergunta: para refundar a educação, não teríamos de repensar a escola?
Foi, então, que algo inusitado aconteceu…
Por: José Pacheco