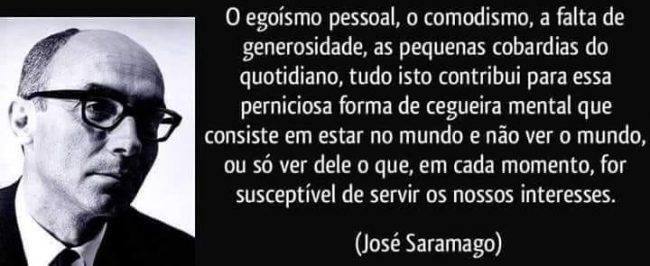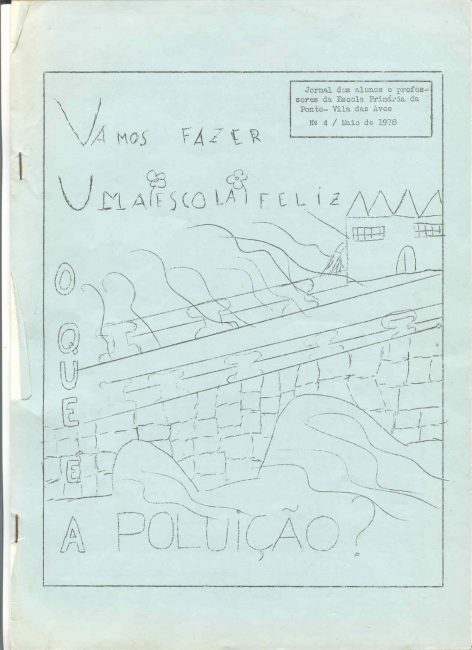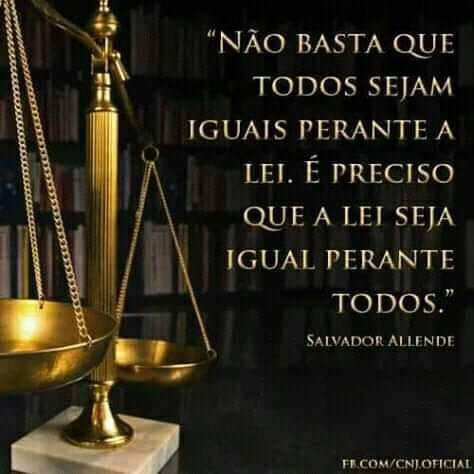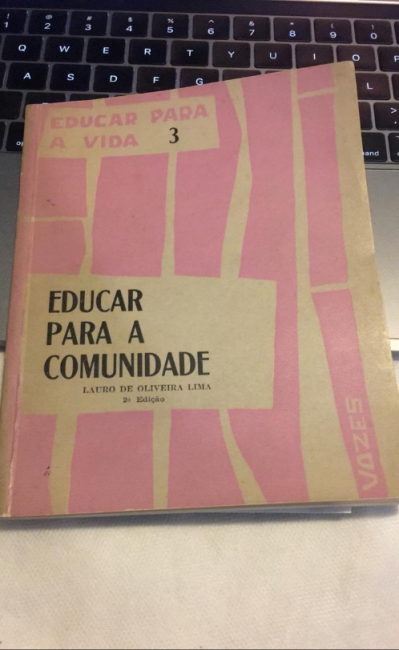Pirassununga, 17 de outubro de 2040
Perguntaram-me por que decidi ser professor. Respondi que quem decide ser professor o faz por amor, ou por vingança e que fui para professor por vingança, acabando por ficar por amor.
Fiquei, porque consegui vingar-me. Jurei que nenhum aluno meu passaria pelas situações de humilhação que eu passei, quando criança. E que vingaria os meus amigos de infância que, em tempo de ditadura, viram negado o direito à educação e morreram de morte matada, antes dos trinta.
Nos tempos da ditadura de Salazar, não se perdia tempo com reuniões. Na distribuição de horários, a antiguidade era um posto. Depois, com o advento da democracia, tudo ficou mais ritualizado. Os burocratas do ministério passaram a impor uma agenda e as escolas cumpriam-na, em penosas e inúteis reuniões. Ressalvadas raras excepções, não se via que algo melhorasse nas escolas, por via das reuniões de “conselho escolar”. Apenas se cumpria ordens “superiores”… como no tempo da ditadura.
Quando o Francisco foi para professor, tudo se resolvia em menos de um piscar de olhos. Havia coerência entre uma preparação solitária da prática e uma prática solitária. Não se copiava o projeto da escola do lado, não tinham sido inventados planejamentos, THD, relatórios, nem a Ritalina. Ainda não se havia enfeitado a mesmice da aula com inúteis acessórios. Mas havia coisas que não mudavam. Ano após ano, o ministério nomeava mais algumas inúteis comissões, lançava mais alguns inúteis projetos, publicava obsoletos decretos.
E os professores se desgastavam em inúteis exercícios burocráticos, dentro da normalidade de uma prática servil. Após o cumprimento formal das tarefas, que abriam o chamado “ano letivo”, cada professor ia fazer pela vida, tão sozinho quanto antes estava, receoso de avaliações, solitariamente exposto a humilhações sofridas de alunos, pais e “superiores”
O Francisco era um excelente professor, mas ocupava um dos últimos lugares da lista graduada. No primeiro concurso, apenas conseguiu um “horário de quatro horas” numa escola bem longe de casa. No ano seguinte, um “meio horário”. No terceiro ano, trabalhou em três escolas, para “completar horário”. O magro salário mal dava para a gasolina. Mas sempre eram mais uns dias de tempo de serviço… Ouçamo-lo:
“Não havia condições para se fazer as coisas como deveria ser. Os meus colegas mais novos queixavam-se de que aqueles que tinham horário incompleto trabalhavam bem mais do que os efetivos e que os efetivos ganhavam o dobro dos contratados. E que era cada um por si”.
Na primeira escola dita pública onde foi colocado, aconteceu de se ter sentado na “cadeira do senhor diretor”. O dito cujo irrompeu pela sala dos professores em altos berros: Bem o avisou a servente: “Você +e novo aqui. Ponha-se no seu lugar!” O professor Francisco optou por não “se pôr no seu lugar”. E passou a sofrer a perseguição do diretor e da sua arrogante esposa.
Cumprido o horário na escola particular e após uma longa viagem, chegou à escola do senhor diretor, bem por altura da hora do almoço. Apesar de só dispor de trinta minutos para almoçar, foi para o último lugar da fila do refeitório. Quando estava a chegar ao balcão, a mulher do diretor furou a fila, colocou-se na sua frente. O Francisco manifestou desagrado. A mulher do diretor fingiu não o escutar. E disparou:
“Ouça lá! Você Sabe com quem está a falar?”
Foi a gota de água! O Francisco confessava “viver em desgosto”. Gostaria de ser professor, mas recusava participar do “salve-se quem puder”. Já não deu a primeira aula da tarde, pediu demissão.
Por: José Pacheco