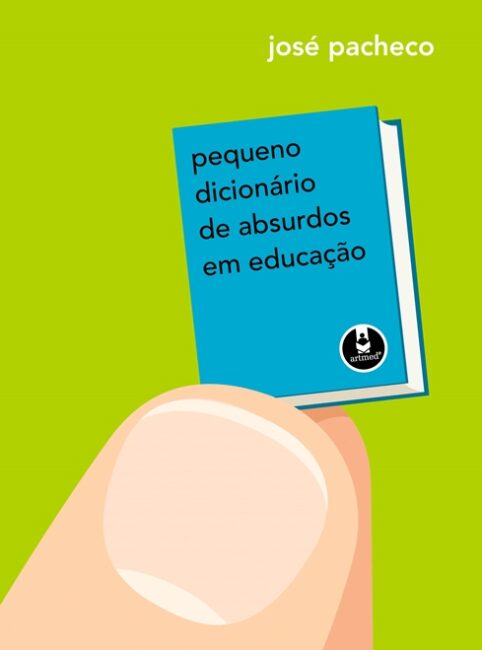Vila das Aves 13 de junho de 2043
No dia 12 de junho de vinte e três, voltei à Ponte. No dia seguinte, o “Diário de Notícias”, um jornal de grande circulação, publicava uma pesquisa jornalística da autoria da Maria João, com o título: “Comunidades de aprendizagem estão a nascer em todo o país”.
Tratava-se de um excelente trabalho, a Maria João prestara um bom serviço `”causa da educação”. Mesmo assim, nesta e em próximas cartinhas, me atreverei a redigir alguns comentários sobre uma reportagem que reputei de oportuna e que à Maria João agradeci. Tratar-se-á de quase uma “revisão da matéria dada”.
Já lá vão cerca de vinte ano, mas será bom lembrar aos professores de 2043 aquilo que propus aos professores dos protótipos de comunidade de vinte e três. A notícia rezava assim:
“Aprender fora da escola, uma tendência que cresce em Portugal. Por todo o país nascem comunidades de aprendizagem, e algumas dentro da Escola Pública, como é o caso de Leiria. Não há testes, nem sala de aula, nem nada que lembre o ensino tradicional.”
Não se tratava de “aprender fora da escola”, mas de conceber e desenvolver uma nova construção social de aprendizagem, na qual a escola se inseria numa rede a que poderíamos chamar “comunidade”.
O primeiro momento de uma grande mudança foi a criação de “núcleos de projeto”. Considerada a escola como nodo de uma rede de aprendizagem, seria necessário constituir parcerias, estimular o espírito inventivo e assumir responsabilidade social, dentro do princípio ético que nos dizia que tudo o que fosse inovado deveria ser para benefício de todos.
Expliquei como se constituiria um Núcleo de Projeto. Era o dispositivo central de um processo de mudança das práticas, o primeiro passo de um projeto de reelaboração da cultura pessoal e profissional, concomitante com a concretização de um projeto educativo.
O Núcleo de Projeto nascia no encontro entre professores, famílias e agentes educativos locais. Também seria necessário incluir gestores e pesquisadores.
A preocupação maior era a de cuidar da pessoa do professor, elevar-lhe a autoestima, o seu estatuto social. Aceitar que muitos não ousassem mudar, por medo das consequências. Nada impor a quem discordava e criticava, porque crenças não se discutem – respeitam-se.
Eu tentava estabelecer uma comunicação dialógica, com os gestores. Usar de compreensão e compaixão para com eles, de muita resiliência, de muita paciência, para não desistir.
Na visita à Ponte de vinte e três, quando procurava a área das artes, calhou de me perder em corredores semelhantes aos das escolas “normais”. Não os identificava com a escola que ajudara a criar. Eram corredores frios, paredes vazias de uma escola “normal” colada ao edifício da Ponte.
Dez anos antes, a Ponte tinha sido exilada em terra alheia, sobrevivia paredes meias com o edifício de uma escola “normal”. Havia um “espaço comum” e foi por ele que me perdi, na deambulação em busca da área das artes da Escola da Ponte.
Percebi que estava perdido em corredores alheios, quando alguém apareceu e me interpelou nestes termos.
“O senhor não pode estar aqui!”
Quando deparava com alguém desconhecido, sempre perguntava à pessoa o seu nome, apresentava-me e cumprimentava-a, era uma regra de elementar convivencialidade. Foi o que fiz.
“Como se chama?
“Sou o coordenador da EBI” – respondeu.
“Então, não estou na Escola da Ponte?”
“Não.”
“Como se chama? Qual é o seu nome?” – insisti.
“Sou o coordenador da EBI” – respondeu. E me levou por corredores mortos, até aos corredores vivos da Ponte.
Amanhã, continuarei o comentário à notícia de jornal.
Por: José Pacheco