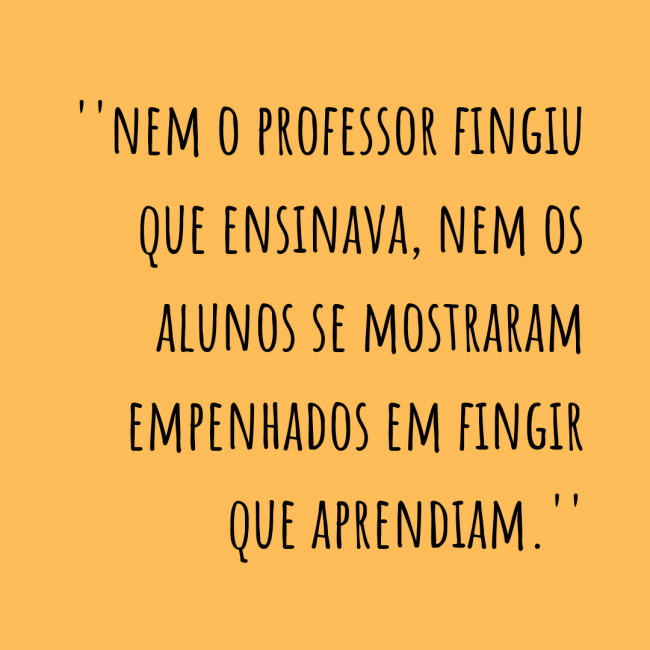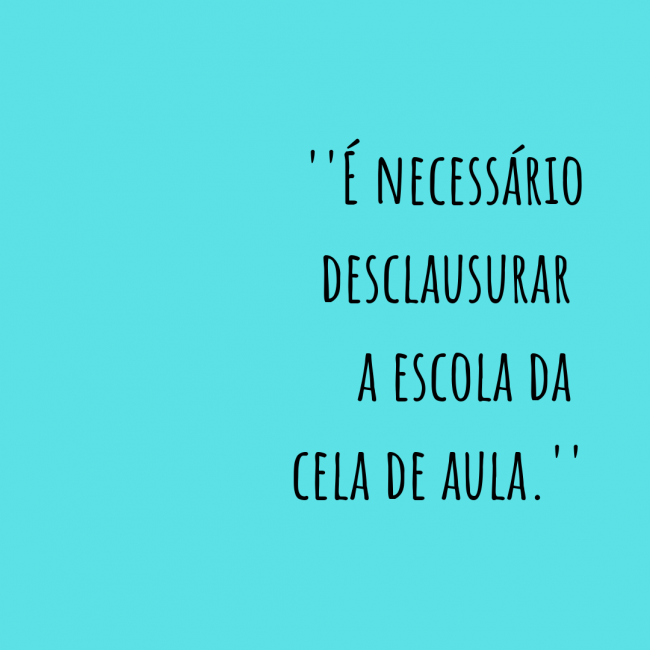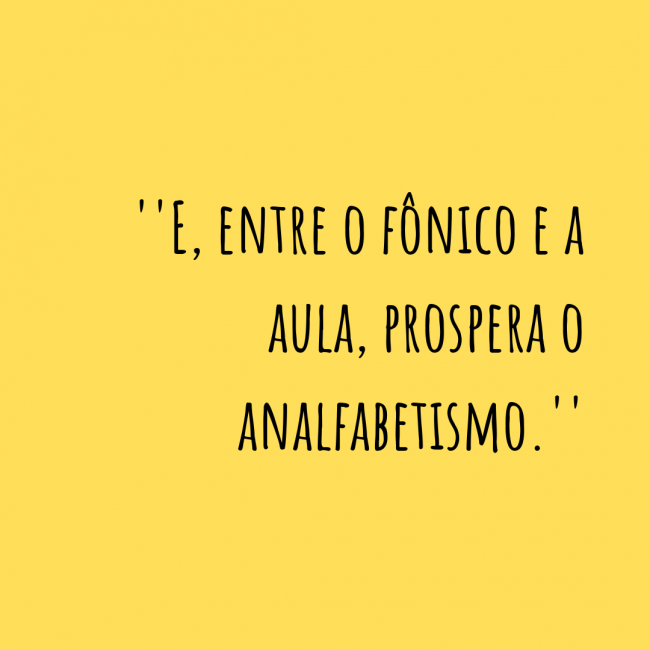Conversava com o meu amigo Apolinário, quando ele se queixou de um aluno que se atrasara em relação aos outros e à matéria que já tinha “dado”. Pensei ser uma oportunidade de, fraternalmente, lhe demonstrar que esse aluno não se atrasara, ou que, na verdade, todos se tinham atrasado, devido ao desperdício de tempo que ocorrera na aula que acabara de “dar”.
A aula “dada” pelo Apolinário durou 50 minutos e foi “dada” para 35 alunos. Foi só efetuar alguns cálculos…. Entre as demoras na entrada dos alunos (e, diga-se em abono da verdade, também do professor…), da chamada oral e do registo das faltas (“Número 1, Abel Marinho” e por aí adiante, até ao trigésimo quinto aluno) foram-se 5 minutos bem contados. Façamos a conta: 35 alunos vezes 5 minutos dá um total de 175 minutos.
Seguiu-se o “registo da matéria dada”. Seria lógico que um “sumário” fosse registado no final da aula, quando o professor viesse a saber quanta e qual matéria tinha “dado”. Presumamos que o Apolinário possuía uma bola de cristal, e vamos ao que interessa… Entre o registo da matéria “dada” e a distribuição de material foram-se mais 5 minutos. Nova multiplicação de 5 por 35 e lá se foram mais 175 minutos…
A aula mal tinha começado e as conversas paralelas já se haviam instalado, complementadas com mensagens de celular (discretamente escritas por debaixo das mesas), jogos em nada relacionados com a matéria, acompanhados de uma contínua algazarra… Em admoestações, avisos e suspensões sucessivas do discurso, o professor despendeu um total de 10 minutos. Contas feitas – por “não haver condições para dar a aula” – mais 350 minutos desperdiçados.
Um longo e inútil sermão final e a recolha de materiais consumiram os últimos 5 minutos da aula. Ora… 5 vezes 35 dá mais (ou mais precisamente, dá menos) 175 minutos.
Nos 25 minutos de aula restantes, o professor tentou ensinar o que seria suposto ensinar. Mas, nem o professor fingiu que ensinava, nem os alunos se mostraram empenhados em fingir que aprendiam. Cerca de metade – por excesso ou defeito de pré-requisitos para a compreensão da matéria “dada”, ou por incompreensão do código linguístico usado pelo professor – ausentaram-se, “desligaram” (terminologia usada pelo professor em causa). Arredondando os números: 25 minutos vezes vinte alunos (e estarei a ser muito generoso…) dá 500 minutos. Somando: 175 + 175 + 350 + 175 + 500 = 1375.
Estes números não são contas de mercearia, são realidade. Numa só aula de 50 minutos, o professor desperdiçou 1375 minutos. Convertendo a cifra em horas, concluiremos que o prejuízo foi de mais de 22 horas de aprendizagem inutilizadas.
Já estou a imaginar os críticos do costume a rezar-me na pele… Mas eu nem sequer evoquei o tempo perdido na realização de provas, ou resultante das faltas dos professores. Muito menos referi as conclusões de um relatório da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, que nos dá conta de outros desperdícios (2).
Acrescentarei que, no final de uma tão simples demonstração, ainda esbocei uma análise menos “quantitativa”.
Falei-lhe do conceito de “envolvimento na tarefa” e de outras pedagogias, nos quais o tempo desperdiçado (com cada aluno e todos os alunos) é quase nulo. Foi, também, tempo desperdiçado. À semelhança de outros mestres, o Apolinário só ouve aquilo que quer ouvir. Como se nada tivesse escutado, pôs fim à conversa:
E tu nem contabilizaste o que me faz perder mais tempo, aqueles alunos que estão sempre a fazer perguntas e a quebrar-me o ritmo da aula!
(1) in Pequeno Dicionário dos Absurdos da Educação. Porto Alegre, Artmed, 2009.
(2) Escolas Corruptas, Universidades Corruptas: O Que Pode Ser Feito? (Unesco).
Por: José Pacheco