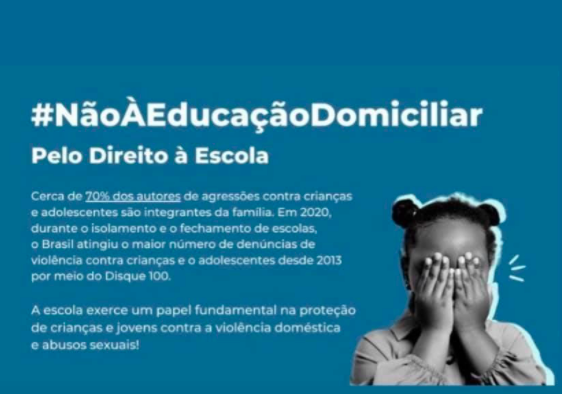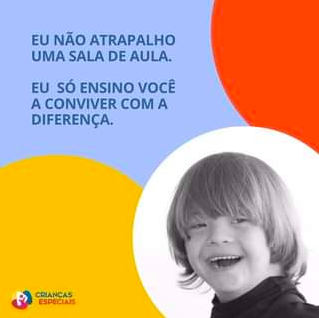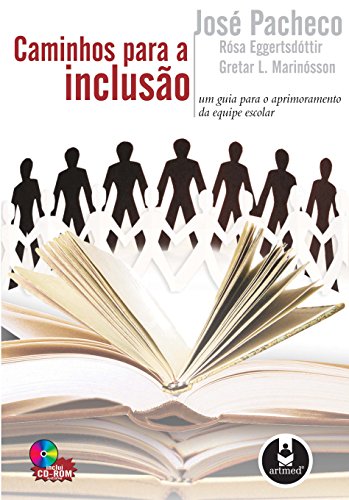Armadouro, 31 de outubro de 2041
Creio ter envelhecido mais, no tempo dos meus verdes anos. Nesse distante outubro, diziam-me que eu ia ficando impaciente e amargo, que era da aproximação da velhice. Não era. Era da indignação que sentia, sempre que certos prostitutos da educação esfregavam as mãos de contentes, quando projetos por mim ajudados a frutificar passavam por crises, ou corriam risco de acabar.
A indignação, que me acompanharia até este nosso radioso tempo, era condimento de um novo bem-estar. Beneficiava da companhia de alguém que me devolvia um sereno modo de agir e uma alegria de infância. Uma canção brasileira tinha por estribilho “vida leva eu”. E eu me deixei levar pela vida. Nasci longe de casa. E, por essa altura, parecia estar perto de a encontrar.
Hoje, chegado aos noventa, já me custa andar, mas isso não me preocupa. O automóvel e o avião são as minhas pernas. Nascido numa pátria da velha Europa, espero expirar na juvenil mátria do sul. Sempre que atravesso o oceano, penso ser a última das viagens, mas…navegar é preciso.
A primeira pandemia deste nosso século foi um sinal de alarme, o aviso de que não seria possível manter um rumo de autodestruição. Muitas vidas teriam sido salvas, se optássemos por um novo modelo de desenvolvimento e se fosse outra a… Escola.
Alienada, alheia aos males do mundo, a Escola voltava da pandemia regressando à mesmice da sala de aula, ignorando que, nesse mesmo dia de outubro de há vinte anos, negociadores de quase duzentos países se reuniam, na Escócia, na 26ª Conferência do Clima. Tentava-se definir regras para a implementação do Acordo de Paris, um acordo que estabelecera como meta manter o aumento da temperatura média do planeta abaixo” de 2ºC em relação ao período pré-industrial.
Cientistas afirmavam ser essa a “nossa última chance”. Em 2020, as emissões globais de gases-estufa tiveram uma redução de 6,4%. Mas, a queda não se ficara a dever aos esforços dos países para conter a crise climática, apenas refletia a retração das economias, no período da pandemia. E, na contramão dessa tendência, o Brasil registrara um aumento de 9,5% de suas emissões, no ano transato.
Entretanto, os adeptos do homeschooling continuavam a preparar o terreno para mais uma tentativa de sucateamento da uma escola dita pública, que se deixava sucatear. Empresas surgiam como cogumelos em terreno putrefato. Quadros de segundo escalão do ministério abutricamente se organizavam. O secretário de uma das pastas ministeriais desenvolvera um conteúdo para homeschooling, a que deu o nome de “Como Educar Seus Filhos”.
A administração do sistema permanecia apática, quando não facilitava a ação de movimentos e sistemas internacionais, que se acercavam de um educacional repasto mercadológico. Uma loja virtual comercializava material didático e traduções de livros como o “Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth (Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude Americana). Havia Programas de Apoio à Educação Domiciliar, em parceria com a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que prestaria assistência às famílias homeschoolers, quando necessitassem de apoio jurídico, e auxiliaria os parlamentares na elaboração de projetos de lei.
Quando me perguntavam o que pensava disso tudo, eu respondia:
“São decisões políticas, que deverão ser respeitadas. São projetos de um governo democraticamente eleito. Quem o elegeu, que responda!”
Convidava a questionar e a transformar a educação familiar, social e a escolar, a maior responsável pela situação.
Por: José Pacheco