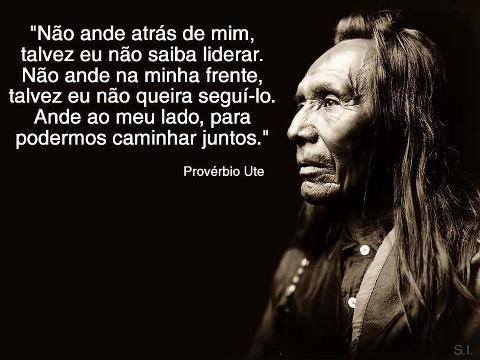Quatro Barras, 2 de outubro de 2040
Em meados da década de noventa, logo após a Conferência de Salamanca, publiquei um livro que tinha por título “PATHWAYS TO INCLUSION – A Guide to Staff Development” (foi publicado em Manchester). Voltando a Portugal, fui formador de professores que tentavam fazer a transição entre a escola excludente e a escola da inclusão. No Brasil, colaborei com a Fundação Síndrome de Down. Ajudei a minha amiga Darclé a cuidar do Rafa. Acompanhei muitas famílias na busca de uma escola que respondesse às “especiais necessidades” dos seus filhos.
Em 2020, com pompa e circunstância, foi apresentada uma nova lei da “inclusão”: “Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”. Logo nos primeiros artigos se lê que “escolas especializadas – instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam, em seu desenvolvimento, quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos (…)”. Contemplar, logo “à partida” que havia pessoas que não beneficiavam das escolas regulares, era abrir portas para a… exclusão.
Quando se referia aos deficientes, o ministério designava-os por “público-alvo”, quando deveria tratá-los como sujeitos-cidadãos. Aliás, eram frequentes no discurso ministerial sinistras expressões, como “recursos humanos”, porque a linguagem produzia e reproduzia uma determinada cultura. Sub-repticiamente, se induzia as famílias das crianças “diferentes” à “sevirologia” – “Família, se vire!” – mas, o dilema não estava em escolher uma escola comum, particular ou especial. Não havia escolha, mas falta dela. Faltava o cumprimento de uma política de direitos humanos, que a todos desse condições de ser e de aprender. A nova lei era velha, era apenas mais um retrocesso normativo. Nada acrescentava e, sob pretexto do direito à escolha, segregava.
Após publicar o meu livrinho, mantive o diálogo com educadores conscientes, que sabiam que na escola instrucionista, na escola da aula, nunca haveria condições de assegurar uma efetiva inclusão. Professores brasileiros, de visita à Ponte, questionavam:
A Escola da Ponte vem fazendo um trabalho de grande relevância, isto é indiscutível. Receber os alunos rejeitados pelas suas escolas, abraçá-los com suas dificuldades, agrupá-los, respeitando o seu ritmo, trazer às famílias à escola, deixar que construam o seu saber focando questões de seu interesse, sem, contudo, deixar de construir as regras da conviver. Mas, em um dos livros do Pacheco, ele afirma que a Ponte ainda não pode ser considerada uma escola inclusiva, mas uma escola que tende à inclusão, fundamentada no trabalho com a heterogeneidade…”
Ao que respondi:
“Perdoa o tom que utilizo para concordar contigo. Mas apetece-me dizer que, infelizmente, a “inclusão” é um termo fabricado em Salamanca, mas que até hoje somente serviu para enfeitar teses de doutoramento. Como referes, há muitas “pessoas conceituadas” a produzir teoria inútil (no MEC, nas universidades e em outras torres bizantinas) e há muito faz-de-conta “inclusivo” nas escolas. Devo acrescentar que também há gente séria nas universidades e no MEC. Não generalizemos. As escolas terão de reconfigurar as suas práticas, para que a inclusão (que já é um termo excludente…) aconteça.
Queridos netos, como vedes, apenas adentrei o assunto. Se não for para vós uma maçada, continuarei a falar-vos de inclusão escolar e social, nas próximas cartinhas.
Por: José Pacheco
 348total visits,2visits today
348total visits,2visits today