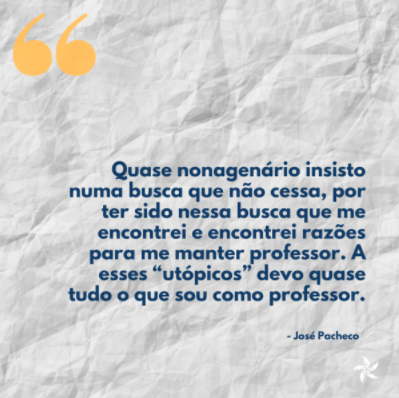Algures, no dia 4 de fevereiro de 2041
Há muitos anos, quando ouvia alguém referir-se com desdém a uma qualquer escola ou a classificar um qualquer professor de “lírico” ou de “lunático” (só para referir as mais gentis e eufemísticas classificações), eu inquiria, discretamente e sem manifestar excessiva curiosidade (para não levantar suspeitas), de que escola ou professor se tratava. Recolhida a informação, logo preparava a viagem.
Ávido de prodígios, pesquisador de almas inquietas, fui em demanda da professora Lúcia e da sua tão criticada escola, escondida num vale. Depois de muitas voltas por estreitas estradas de terra, estava quase decidido a voltar para trás, quando deparei com uma placa indicando a proximidade da aldeia. Segui por um caminho onde mal passava um carro. O receio de encontrar alguma viatura em sentido contrário foi-se esvaindo à medida que me aproximava da aldeia e talvez por efeito do sossegado silêncio entre montanhas, pontuado pelo chilrear dos pássaros. Ia tão distraído que, no desfazer de uma curva, por pouco não fui de encontro a um par de cornos fora de mão.
“Ei! Ei, Bonita! Arreda!” – gritou uma velhinha, de aguilhão em punho, empurrando a vaca para o rego de água que bordejava o caminho.
Pedi desculpa pela perturbação gerada e perguntei à senhora se conhecia a escola e se ainda ficava longe dali.
“Não, meu senhor, é mesmo aqui pertinho. Não tem nada que enganar. O senhor vai por aqui, sempre neste correr. Quando der com a casa do meu filho, meta a descer para o lado esquerdo. A escola é logo ali à beirinha”.
Retomei a marcha com o mesmo pressentimento de me haver perdido. Mas a desconfiança desvaneceu-se ao deparar com “a casa do filho”. Era a única, ao fundo do caminho. E lá estava a azinhaga, envolta numa latada, uma espécie de túnel, ao fundo do qual vi “a luz”.
A singela construção iluminava-se com o riso das crianças. A gélida sala de aula amornava-se com o calor de gestos sábios e transbordava de doce ternura. Havia mais pedagogia naquele lugar ermo do que em todos os compêndios que eu já tinha lido. Em escassas horas, aprendi mais de crianças e de professores do que nos cursos de formação.
Voltei para a Ponte com mais alento e vontade de não desistir. Voltei mais consciente do muito que teria de me melhorar e do quanto teria de aperfeiçoar a minha prática. Voltei com uma “fé pedagógica” fortalecida. Porque, à semelhança dos magos que se deixaram guiar por uma estrela até uma claridade que rompia as trevas de uma gruta ou casebre, eu mantivera a crença de encontrar a casa de um filho de uma velhinha, marco de referência de uma escola que irradiava uma luz perturbadora das trevas em que todo um sistema estava imerso.
Decorridos alguns anos, voltei à aldeia. Nada restava do projeto da Lúcia. A administração educacional soube que a Lúcia “não dava aula”. A Lúcia não se amedrontou com as ameaças. Foi punida e transferia para outra escola. Juntou-se ao rol de outros “utópicos” depreciados, caluniados, perseguidos, ou ignorados e remetidos para uma solidão compulsiva.
Quase nonagenário insisto numa busca que não cessa, por ter sido nessa busca que me encontrei e encontrei razões para me manter professor. A esses “utópicos” devo quase tudo o que sou como professor.
Quando rumei ao Brasil, encontrei educadores como a Lúcia e vi repetir-se a destruição de projetos. Até que chegou a hora de colocar um ponto final na saga destrutiva. Contar-vos-ei o que aconteceu no Distrito Federal dos idos de vinte, depois que dois extraordinários secretários de educação – o Júlio e o Rafael – decidiram criar comunidades de aprendizagem.
 227total visits,2visits today
227total visits,2visits today