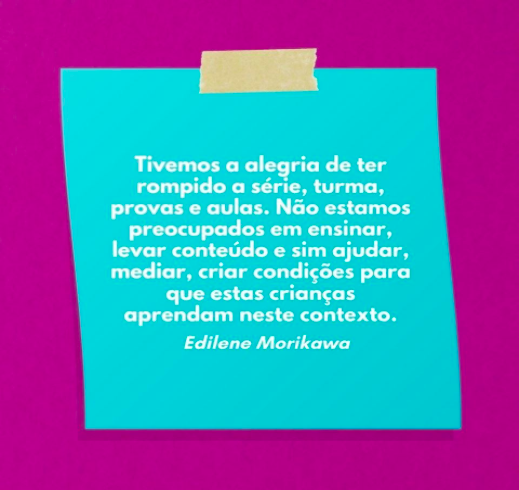Foz do Arelho, 10 de junho de 2041
Falar-vos-ei, mais uma vez sobre o projeto das “escolas de área aberta”. Pelas suas características – existência do grande espaço polivalente – a escola P3 facilitava a integração no meio social, tornando possível a sua utilização pela comunidade. Era área aberta de cooperação, de comunicação, uma das finalidades da “escola P3” era concretizada.
Outros objetivos eram anunciados. Se havia intenção de criar um ambiente encorajador de melhor comunicação entre alunos e professores, mobilizava-se professores para o trabalho em equipa. Facilitava-se a adaptação da organização escolar às diferenças individuais e à contínua aquisição de conhecimentos, permitindo reagrupamentos funcionais de alunos. Estimulava-se a multiplicação dos contatos pessoais e, por conseguinte, uma melhor sociabilização.
Diversas organizações, transformações temporárias e, por vezes permanentes, eram possíveis. Propunha-se outro tipo de relação entre os grupos, que constituíam a equipa educativa (pais, professores, alunos, auxiliares), uma outra prática. O trabalho e vida em grupo, a exigência de escutar o outro, tornava-se tão importante quanto a mudança de relações entre professores e alunos. Da instrução se passava para objetivos amplos de educação.
A escola de área aberta da Ponte era um convite ao trabalho em equipe e à participação cidadã. Nela se gestou um projeto de autonomia, que culminou na celebração de um contrato com o Estado português, decorria o ano de 2004. Não constituiu tarefa fácil. Em setembro de 2003, segundo o jornal “O Público”, cerca de trinta personalidades públicas, na sua maioria ligadas à educação, divulgaram um documento em que se solidarizaram com a comunidade educativa da Escola da Ponte, nomeadamente, com os professores que “teimavam em ser autónomos, criativos e donos da sua profissão”. E acusavam o Ministério de “fazer o contrário do que dizia”.
Nesse mesmo mês, por decisão dos pais, se anunciava que a escola iria reabrir, mesmo sem autorização do ministério, cabendo aos alunos mais velhos (impedidos de se matricularem na escola) “orientar e apoiar” os mais jovens.
No Porto, numa sessão pública de apoio à Escola da Ponte, que decorreu no auditório “completamente cheio” da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, os presentes juntaram a sua assinatura “aos mais de 2500 nomes que, numa semana, subscreveram um abaixo-assinado de contestação à atitude do governo de não autorizar que o projeto Fazer a Ponte se expandisse para o “terceiro ciclo”. Integrada no movimento Fazer a Ponte, foi promovida pela Escola Superior de Educação do Porto uma sessão “de informação, debate, solidariedade com a Escola da Ponte e defesa da escola pública”.
No dia 10 de junho, feriado nacional em Portugal, escutei discursos apelativos de “uma nova cidadania”. No abril de 74, os portugueses tinham adormecido embalados por uma ditadura. No dia 25, acordaram democratas. Decorridas três décadas sobre o fim da ditadura, ainda se tornava necessário defender a democracia das insídias de políticos intelectual e moralmente corruptos.
Por ter sido berço de uma “nova cidadania”, a Ponte havia sido alvo de tais políticos. Disso vos falei nas cartas para a Alice:
“Negrelas invadiram o espaço da escola, parasitaram saberes e imitaram o canto de outros pássaros, para lhes roubar o futuro. As gaivotas acreditaram nas negrelas, deixaram-se enganar pelo seu encantatório canto. Espantaram-se, quando as negrelas recusaram elevar a alma à altura do sonho”.
Por: José Pacheco