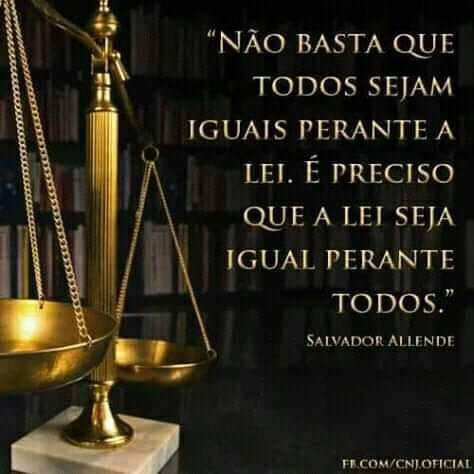Águas de São Pedro, 12 de outubro de 2040
A Educação Inclusiva não surgiu por acaso, nem era missão exclusiva da Escola. Nos idos de noventa, era produto de realidades educacionais de uma época, que exigia que abandonássemos estereótipos e preconceitos. Era preciso emitir juízos fundamentados, saber fazer silêncio “escutatório”, fundamento do reconhecimento do outro. Precisávamos rever nossa necessidade de desejar o outro conforme a nossa imagem do outro, respeitá-lo numa perspectiva não-narcísica, ou seja, aquela que respeita o outro, o não-eu, o diferente de mim, que defende a liberdade de ideias e crenças, como diria o Freud.
Esses eram, também, caminhos para a inclusão. Em meados dos anos noventa, logo após a Conferência de Salamanca, eu havia publicado um livro com esse título. Esse livrinho fora escrito a muitas mãos, pois a teoria passara pelo crivo de práxis coerentes, em escolas de quatro países, entre as quais a Escola da Ponte. Fomos escolhidos porque acolhíamos tudo o que outras escolas jogavam fora.
Muito antes da realização da Conferência, recebíamos visitantes ilustres, que se apresentavam como especialistas em “educação especial”. Perguntavam onde funcionava a sala de apoio dos “alunos especiais”. Os nossos jovens respondiam que não havia tal sala, que todos aprendiam com todos, em todas as salas. Partíamos do princípio de que todos os seres humanos eram especiais, todos possuíam dons, talentos, que urgia despertar e cultivar.
Mais tarde, outras perguntas surgiram, na Internet. Perguntas como esta, dirigida à Constança:
“Como são organizados os grupos de trabalho? E como foi que a Martinha, aluna com necessidades especiais, foi para o seu grupo?”
Assim respondeu a nossa aluna Tancinha, hoje, adulta e médica dedicada:
“Tentarei dar o meu melhor para responder à pergunta por si colocada, uma vez que já não frequento a Escola da Ponte e, com o passar dos anos, alterações devem ter sido feitas. Normalmente, os grupos eram constituídos por alunos de diferentes anos de escolaridade ou, então, com diferentes níveis de aprendizagem. Isto é, num grupo de quatro elementos, as idades poderiam ser diferentes. Ou, então, tendo a mesma idade, apenas havia um aluno com mais facilidade de aprendizagem em relação aos outros.
No início de cada ano. eram atribuídas cores aos alunos, para que fizessem o jogo da organização de grupos. Vim a descobrir, mais tarde, que cada cor estava de acordo com as nossas capacidades cognitivas e espírito de entreajuda. Esta distribuição acontecia de forma a haver um equilíbrio entre grupos. Depois era-nos dado tempo (…) e tínhamos de respeitar certos critérios. A Martinha veio a formar o meu grupo de trabalho por minha escolha e dos restantes elementos, e fico muito contente por a ter aceite! Estudar com pessoas como a Martinha fez-me crescer muito e ver que ainda há muito para aprender quanto a essas pessoas maravilhosas.”
Nos idos de setenta e de oitenta, os professores da Ponte recorriam a práticas elementares, artesanais, quase sem consciência de que estavam a testar teoria. Guiava-os o amor pela infância e a intuição pedagógica, algo que qualquer professor possuía. Buscavam caminhos de a todos garantir o direito à educação.
Nessas práticas estava implícita a “inclusão”, um conceito que, na Conferência de Salamanca dos anos noventa, os especialistas iriam inventar e que decretos obscenos iriam deturpar. Em 2020, as teses sobre inclusão repousavam nos arquivos das universidades. Na prática, a inclusão era um “faz-de-conta”.
Por: José Pacheco
 363total visits,4visits today
363total visits,4visits today