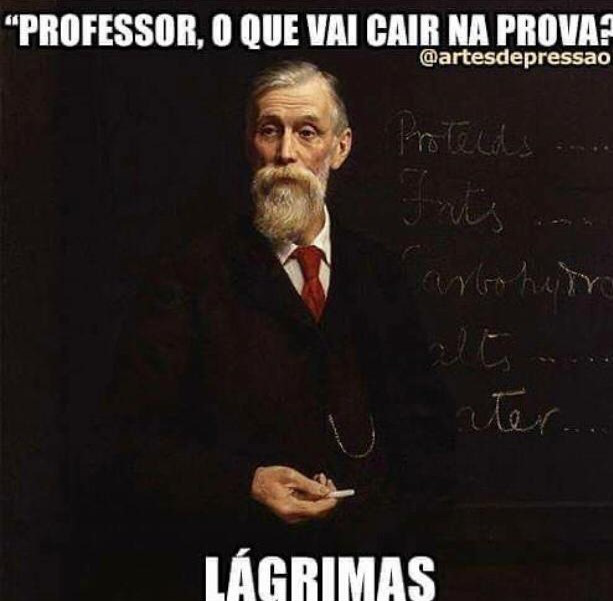Tapes, 28 de novembro de 2040
Queridos netos, aquela pergunta era bem maliciosa:
“Na sua escola, não fazem avaliação?”
Respondi que, na nossa escola, fazíamos avaliação. Mas, não fazíamos prova, não aplicávamos esse instrumento de avaliação, porque pouco ou nada provava.
As “provas” foram prodigamente utilizadas até meados da década de trinta, embora os sistemas de ensino que as utilizavam não lograssem melhorar a aprendizagem. Reconhecidas como precários instrumentos, quase inúteis e até mesmo prejudiciais, desapareceram, para dar lugar à avaliação formativa, contínua e sistemática.
A prova não era formativa, nem contínua, nem sistemática. Era perda de tempo e origem de sutis corrupções. Medir não era sinónimo de mais qualidade no ensino. Muitos alunos chegavam ao ensino médio incapazes de fazer uma interpretação de texto, apenas 15% dos titulares de diploma de Direito conseguiam aprovação no exame da Ordem dos Advogados, mas havia uma crença ingénua nas virtudes das provas.
Um sistema burocratizado impunha estruturas curriculares rígidas e obsoletos modos de organização do trabalho escolar. As escolas mantinham-se coniventes com o estímulo da competitividade, exigiam decoreba de “piroclásticas” e “crivos de Erastóstenes”, que, depois do “vómito pedagógico” numa prova, os alunos esqueceriam.
Para um ensino excludente, uma avaliação seletiva. Confundia-se avaliação com classificação. A reprovação baseada em nota continuava a produzir sucedâneos de desculpabilização curricular, como as classes de reforço, excluía e deixava marcas para o resto da vida. A “avaliação” que se fazia nas salas de aula desse tempo era geradora de uma longa lista de absurdos, da qual vos deixo alguns excertos, prescindo de comentário, porque os absurdos falam por si.
Sabíamos de encobertos e ilegais vestibulinhos, reprodutores de darwinismo social. Sabíamos de alunos consumidores de Lexotan antes de cada prova. Tínhamos notícia de perda de bolsas, porque havia alunos que não conseguiam obter “boas notas”. Escutámos um político que, solenemente, afirmava que, se não se aplicasse cada vez mais provas, poderíamos “estar a formar analfabetos”, como se a aplicação de mais provas fosse solução para catorze milhões de analfabetos funcionais que a ensinagem produzira.
Um secretário de educação obrigou as escolas a colocar na porta da unidade a nota que obtiveram no Índice da Educação Básica (Ideb), expondo os alunos a vexames vetados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uma secretaria estadual propôs a elaboração de um banco de itens, para que os professores aplicassem provas a cada dois meses. Identificada a necessidade de “recuperação”, sugeria que essa “recuperação” fosse feita no contra turno, ou que se paralisasse as aulas durante uma semana para a… “recuperação”. A educação estava nas mãos de ignorantes autoritários.
A mesma secretaria criou (mais) uma prova padronizada, para aplicar a meio do ano letivo, “com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos a meio do ano”. Isto é: estabeleceu-se a ideia do ciclo, sem romper com o modelo seriado. Outra secretaria de educação confundia “aprovação automática” com progressão continuada e adotava “períodos de recuperação trimestral”, insistindo na lógica das classes de “reforço”.
Fazer prova era como medir a temperatura. O termómetro que registava a febre não fornecia um diagnóstico, nem prescrevia a terapêutica. Apenas sinalizava o estado febril. A solução não estava no termómetro – a preocupação com o termômetro não fazia baixar a temperatura.
Por: José Pacheco
 244total visits,4visits today
244total visits,4visits today