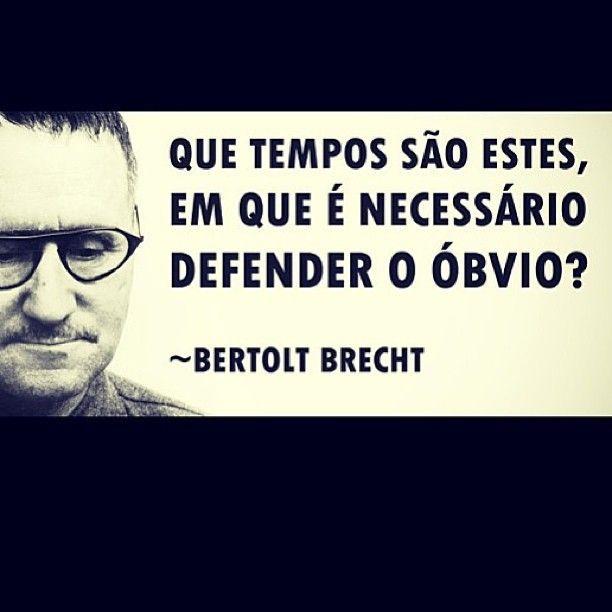Itaquaquecetuba, 2 de agosto de 2041
Parece ser consensual que os alunos devam dominar “habilidades” considerados essenciais, como: pensar de forma autônoma, comparar o raciocínio próprio com o de outros, saber escutar e avaliar opiniões, tomar decisões de acordo com a informação disponível, comunicar-se eficientemente, entre outras. Mas, como desenvolver tais “habilidades” em situação de sala de aula? Nunca alguém soube dizer como o fazer.
Nos idos de vinte, medidas de política educacional como a espúria “base nacional curricular comum”, continuavam a contrariar o espírito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inviabilizando a complementaridade e sequencialidade entre ciclos da educação básica.
Por que razão os manuais didáticos eram destinados ao “2º ano” do “1º ciclo”? Afinal, o que vigorava? Ciclo? Ano? O quê? Se a lei estabelecia a organização em ciclos, poderíamos concluir que a prática do ano de escolaridade colocaria as escolas à margem da lei?
Outras perguntas poderiam ser formuladas, mas estas bastavam para justificar urgentes intervenções. Não seria mais possível encarar como “fatalismo” o “fracasso escolar”. Se o modo como o poder público geria o sistema de ensinagem negava a muitos seres humanos o direito à educação (inscrito na Declaração Universal e na Constituição), o poder público teria o direito de manter esse modo de organização? Se o modo como as escolas e os professores trabalhavam não garantia esse direito, as escolas e os professores não poderiam continuar a trabalhar desse modo.
Seria possível conciliar a ideia da articulação entre ciclos com a sua segmentação em anos de escolaridade? Seria possível pensar a coesão entre ciclos, se nem a articulação entre anos de escolaridade no interior de cada ciclo estava assegurada? Afinal, se os livros didáticos estavam concebidos por anos, o Fundamental estaria organizado em ciclos? E, se o problema de articulação entre ciclos só existia porque havia ciclos, por que se mantinha essa subdivisão do considerado “fundamental”?
A compartimentação entre ciclos era mais uma manifestação absurda dos cânones de um paradigma educacional mecanicista – o paradigma da instrução. A tradição de segmentação cartesiana originava rupturas traumáticas, perniciosos efeitos na psique dos alunos, que não transitavam entre ciclos de um mesmo ensino básico, mas entre comunidades escolares autistas.
Hutmacher afirmou que, ao entrarem no ciclo seguinte, os alunos experimentavam uma espécie de regressão. Se estavam conscientes dessa “regressão”, se os professores e legisladores eram de opinião de que a articulação era fundamental para a unidade da educação básica, por quanto tempo se prolongaria o predomínio da justaposição formal entre ciclos e a dependência de uma matriz curricular reprodutora de cartesianos vícios?
Nos idos de vinte, uma récua política e burocrática execrava Paulo Freire. Sem terem lido uma linha dos seus escritos e ignorando quão ampla era a sua projeção universal, desconheciam palavras conciliadoras do Mestre:
“Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles”.
A lei integrara proposições de escuta, sempre ostracizadas pelos detentores do poder. Através do Plano Nacional de Educação, um projeto de autonomia fora regulamentado. A recomendação da Meta 19 era explícita. O poder público a ignorou.
Por: José Pacheco
 184total visits,4visits today
184total visits,4visits today