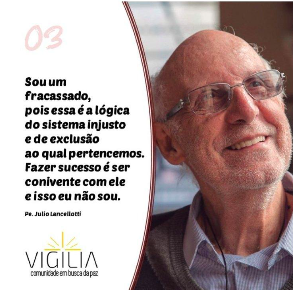Mogi das Cruzes, 19 de agosto de 2042
Num dia do agosto de vinte e dois, saí de Brasília para ir a Santo André, conversar com os amigos Cristiano e Paulo sobre filantropia e comunidades. De passagem, fui até Mogi, escutar o que de belo os professores do projeto de humanização realizavam.
Pude confirmar em múltiplas vivências que os educadores daquela excecional equipe partilhavam uma visão de mundo, que viria a traduzir-se na humanização desejada, numa escola cidadã. Porém, naquele tempo, ainda havia quem pensasse que se poderia educar para a cidadania, sem que se nos reeducássemos no exercício digno da profissão.
Esses educadores estavam expostos a situações de uma cidadania pautada em vícios, conviviam com colegas alheios à necessidade de humanizar o ato de educar. Aqueles educadores consideravam ser possível uma evolução das dinâmicas sociais e do modelo de cidadão adulto, que dissipasse a “formatação” cívica operada pela escola. Mas, lidavam com personalidades moldadas numa conceção imutável de sociedade.
Eu estava atento às dificuldades que viessem a defrontar, decorrentes do déficit de cidadania de que o Brasil padecia. Amiúde, eu lia em manuais escolares a expressão “educar para a cidadania”. Se bem entendia o sentido da frase, tratar-se-ia de moldar o indivíduo numa lógica de sequencialidade regressiva, treinando-o nesse tempo para um posterior desempenho social ajustado a um determinado modelo de sociedade futura. No estilo faz-de-conta-que-já-somos-para-sermos-quando-formos, esse exercício acabava sendo um exercício que era fim em si próprio.
A educação praticada nas escolas seria para a cidadania, ou na cidadania? Não se tratava de uma subtil diferença ente a palavra “na” e a palavra “para”. Sendo a primeira uma contração de preposição e artigo e a segunda se apresentar como preposição simples eram pormenores de somenos importância. Importante seria o espírito da coisa, pelo que optei pela expressão “educar na cidadania”, no hic et nunc do drama escolar.
Fazíamo-nos no que fazíamos. Aprendíamos cidadania, como tudo o resto, no devir que já éramos. Mas, onde estariam os espaços de exercício de uma liberdade responsável? Se nem os professores a exerciam, como poderão ensiná-la?
Assim como era absurdo pensar que, nas universidades, se ensinasse “métodos ativos” em aulas caracterizadas pela passividade, também seria inútil pensar que a cidadania poderia ser ensinada em aulas expositivas, amaciadas pela análise de dilemas, ou por via de discursos de moralidade duvidosa e eficácia nula. Não se ensinaria cidadania com recurso a sermões.
Numa escola, que eu acompanhava, assisti à reunião semanal de uma Assembleia recém-criada. Um aluno rejeitado por outra escola que chegara há menos de um mês, interveio sem pedir a palavra e disse:
“Para que é que isto serve? Na outra escola, as professoras mandavam a gente fazer e a gente fazia!”
Havia escolas onde tudo o que ocorria era negação de cidadania. Nessas escolas, a solidão dos professores era da mesma natureza da solidão dos alunos, que passavam de sala em sala, no ritmo pautado por uma campainha, e deparavam com professores afáveis ou permissivos, uns exigentes, outros autoritários. Para estes, o ser humano era nada e as regras prussianas deveriam ser seguidas a qualquer preço.
Não saberiam os professores de Mogi, do Brasil, do mundo, que, sozinhos, encerrados em salas de aula, entregues às suas certezas e disfarçando angústias, profissionalmente sobreviviam dependentes de uma hierarquia que lhes negava o direito a uma cidadania plena?
Por: José Pacheco
 208total visits,4visits today
208total visits,4visits today