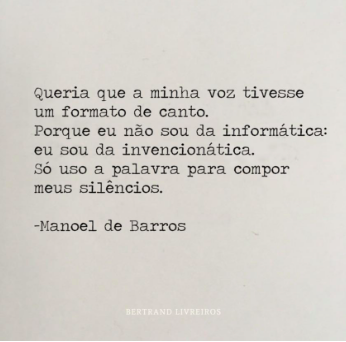Ingá, 26 de agosto de 2043
Em pioneiras aplicações de acordos de convivência, havia quem se queixasse:
“Eles são ingratos. Fizemos combinados e eles não os respeitam. Por exemplo, o erguer o braço para pedir a palavra.
Ontem, estive mais de dez minutos de braço erguido, até que acabasse a zoeira.”
Práticas de diálogo e gestão de conflito, praticar sociocracia, interiorizar acordos, era processos longos, que requeriam dos educadores o equilíbrio entre amorosidade e firmeza, em doses adequadas a cada situação.
Educadores e educandos deveriam definir e vivenciar dispositivos e práticas, que, de forma articulada, buscassem cuidar de princípios e valores, pesquisar e exercitar procedimentos e práticas de diálogo, a gestão de conflitos intra e interpessoais, a sociocracia e a não-violência, a partir de valores e princípios. E isso não acontecia da noite instrucionista para o dia-a-dia comunicacional.
Era tarefa ciclópica, que requeria tempo, paciência, resiliência, o exercitar de ferramentas de facilitação de processos participativos, que promovessem o engajamento e o desenvolvimento do trabalho em equipe, bem como o cuidar dos conflitos e estabelecer redes de apoio.
O desenvolvimento de competências socioemocionais não era tão fácil como era descrita e proposta nas teses produzidas sobre o assunto e elaboradas por académicos distantes do chão de escola. E era ainda mais complexa a missão, quando se tratava de inserir nas novas práticas mecanismos de envolvimento e participação da comunidade. A começar por libertar o professor do gueto da sala de aula e do prédio-escola, no reconhecimento de que o ethos organizacional de uma escola dependeria da sua inserção social e de relações de proximidade com outros atores sociais.
Assumindo que as escolas eram as pessoas agindo em espaços públicos, em nodos de redes comunitárias incubadoras de sustentabilidade, se devolvia as escolas às comunidades, na partilha da responsabilidade de educar. Se concebia novas construções sociais de aprendizagem, que integrassem as dimensões escolar, familiar e social, e contemplassem necessidades sociais contemporâneas, a participação ativa de agentes educativos locais, dentro e fora do prédio-escola, contribuindo para a coesão social.
Se não houvesse professores vivos nas escolas, eram criadas redes de voluntariado e de engajamento comunitário no processo educativo. A propósito, ficai sabendo que, na Escola da Ponte dos idos de setenta, todos os professores morriam (profissionalmente) aos vinte, sendo enterrados aos sessenta ou setenta. Restou-me erguer um projeto com os pais dos meus alunos.
O mesmo aconteceu nos idos de vinte, quando projetos inovadores marginais partiam da iniciativa de famílias conscientes dos nefastos efeitos de um cortejo de horrores a que chamavam “administração pública”. O “sistema” era desgovernado por secretários de educação que agiam como aprendizes de feiticeiro. Uma secretaria juntou a um já longo rol de disparates a regra de reprovação de alunos que faltassem às aulas em quinze dias seguidos.
Como se não bastasse a contínua imposição de uma “educação bancária”, essa medida restringia ainda mais o direito básico à educação assegurado pela Constituição.
Netos queridos, naquele tempo, a Educação e as escolas permaneciam à mercê de políticos debutantes e da corrupção intelectual de “especialistas”. Sei que custa a crer que isso tenha acontecido. E, se perguntais o que fazíamos perante o descalabro, vos responderei que, feitos beija-flor, lá íamos fazendo a nossa parte.
Por: José Pacheco
 298total visits,2visits today
298total visits,2visits today