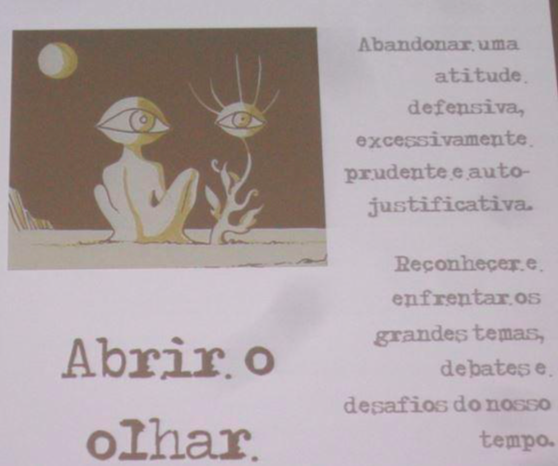Arapiraca, 9 de fevereiro de 2044
Atravessando o rio São Francisco, de Sergipe para Penedo, segui para Arapiraca, colhendo pelo caminho suaves recordações. Estávamos no fevereiro de vinte e quatro. As palavras de Mia Couto me impeliam ao agir imediato
“”A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde.”
A urgência se me impunha. Acatava o conselho do amigo Nóvoa de abrir o olhar à necessidade de “abandonar uma atitude defensiva, excessivamente prudente e auto-justificativa”. Três situações justificavam intervenção imediata. A corrupção moral impedira a continuidade do projeto de Mirantão. A Fabi continuava exposta ao assédio moral de uma diretoria e uma comunidade nascente corria risco de acabar.
Num dos “encontros de sábado”, decidi partilhar com educadores éticos situações que apenas careciam de ajuda, de solidariedade ativa. Essa era a hora de não nos acomodarmos ao mundo como ele era, nem à vida como no-la impunham. Essa era a hora inadiável de exigir a justiça possível e de realizar um ideal transformador. Não poderíamos “deixar para depois do Carnaval” o exercício de solidariedade.
Em breve vos contarei a estória de uma comunidade de aprendizagem. Hoje, apenas a refiro como exemplo acabado de potencial vítima do “projeto” a que Darcy se referia, quando perguntava a que se devia a crise da educação.
Nesse tempo, a administração educacional era (propositadamente?) ineficiente e moralmente corrupta. Impunha um modelo educacional obsoleto e que jamais garantiria a todos o direito à educação, colando-lhe paliativos “maker”, “híbridos”, organizando inúteis e dispendiosas conferências, congressos, seminários.
Era por demais evidente a falência do “sistema de ensino”. O erário público era saqueado por abútricas empresas, por (de)formadores, por eufemísticos “centros de estudo” (de “explicações”, de “reforço”) e por palestrantes de PowerPoint.
Os projetos com potencial de mudança definhavam por falta de apoio. Alheios ao drama, os meus companheiros das ciências da educação (teoricamente) se debruçavam sobre a questão. Entre eles o Zé Alves, que, por essa altura, publicava no antigo Facebook um artigo com o título “A autonomia (relativa) e as possibilidades de desenvolvimento profissional e organizacional”:
“No seu sentido etimológico e que continua a ser pertinente, a autonomia é a capacidade e a possibilidade das pessoas e das organizações se darem as próprias normas de ação. Ter a capacidade e a possibilidade de optar, decidir, construir os regulamentos em função das situações, dos problemas, das especificidades da ação concreta.
Como refere Weber, “a autonomia significa, ao contrário da heteronomia, que a ordem do agrupamento não é imposta por alguém de fora do mesmo e exterior a ele, mas pelos seus próprios membros e em virtude dessa qualidade”.
Como se vê, este poder assenta no pressuposto de que as pessoas e as organizações são capazes de assumirem a liberdade e o risco da tomada de decisão, podem ser coautores das regras de conduta; e, igualmente se compreenderá, que este saber poder é limitado e relativo. Porque ninguém sabe tudo, ninguém é inteiramente livre de agir, está condicionado pelos saberes e liberdades dos outros e pelas normas legais e sociais em que se movimenta e de que é coautor. Daí que se aceite que a autonomia assuma uma natureza pluridimensional, relacional, relativa, processual.”
Olha a novidade!
Porque seria que se continuava a sofisticar o discurso e a aceitar a continuidade da miséria das práticas?
Por: José Pacheco
 127total visits,2visits today
127total visits,2visits today