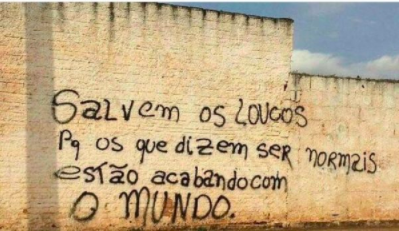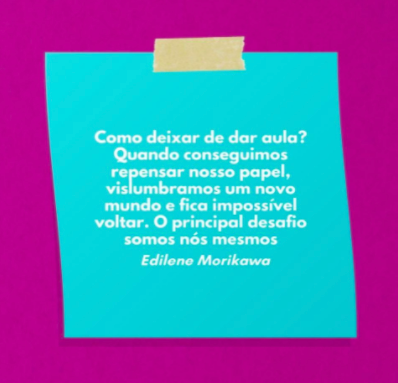Canas de Senhorim, 6 de abril de 2041
No último terço do mês de março de há vinte anos, a tragédia anunciada registrava mais de 3000 mortes diárias. No último dia desse mês, com 3.950 mortes por Covid-19 em 24 horas, o Brasil batia um novo e triste recorde de óbitos. Tal era o tamanho do desprezo pela vida humana a que políticos medíocres haviam votado o povo brasileiro.
Nesse mesmo dia, mas em 2021, o vosso avô estava a caminho de Brasília, almejando ser contemplado por uma vacina, que o pusesse a salvo. Mas, sem poder deixar de pensar naqueles que, por incúria de desgovernantes, não se salvariam. No Distrito Federal, a pandemia de Covid se agravava, com corpos no chão de hospital e muitas pessoas aguardando na fila para leito de UTI. O vírus era espelho que refletia crises sociais mais profundas. Os sintomas de doenças de que padecia a sociedade antes da pandemia enfaticamente se revelavam. E até a inatividade, o ócio a que o confinamento obrigava, nos causava uma fadiga anormal, mais intensa do que o rotineiro cansaço dos dias normais.
“E o que tem a Educação a ver com isso?” – alguém perguntou.
“Tudo” – respondi – “A educação escolar nem sequer havia ensinado a lavar as mãos. E a obediência formal cultivada na escola instrucionista era impeditiva da autodisciplina e do aprender a respeitar o outro e a cuidar do próximo”.
No meio do caos instalado, uma nova educação emergia. Em círculos de vizinhança, cartas de princípios e de acordos de convivência davam o tom a uma “nova ordem social”. Procedia-se à análise de regulamentos e outros documentos de política educacional adotados pela administração, para verificar se o seu conteúdo era coerente com a Lei de Diretrizes e Bases, com o Regimento Interno e com o Projeto Político-Pedagógico da organização.
Escutei, certa vez, que havia uns idiotas que retiravam deste documento a palavra “político”, como se fosse possível existir projetos apolíticos. E uma professora dissera que deixava a política fora da sala de aula. Santa ignorância! Quem dizia “não fazer política” não se apercebia de que, por omissão, reproduzia um determinado modelo escolar, social e… político.
A Carta de Princípios deveria ser coerente com a definição do perfil do aluno (sujeito de aprendizagem) e do educador da equipe de projeto. E, para além dos documentos já referidos, seriam objeto de análise os emanados do ministério, que, de algum modo, estivessem relacionados com inovação e currículo. Também deveria ser consultada a Constituição, o Relatório Delors (da UNESCO), a Carta da Terra, os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), o Manifesto da Transdisciplinaridade.
Ao cabo dessas tarefas, a equipe teria redigido e aprovado o “Perfil do Educador” e elaborado um “Termo de Compromisso”. Através da assinatura desses documentos, os elementos da equipe de projeto assumiam um compromisso ético com a educação e com as comunidades a que serviam.
O levantamento de valores predominantes na comunidade de contexto e um inventário de necessidades da população completava essa fase do processo formativo, enquanto se estimulava a reflexão sobre habilidades de liderança, que promovessem uma atmosfera de harmonia e de cooperação.
Acaso a equipe deparasse com conflitos de interesses ou abusos de poder, deveria agir no sentido do cumprimento do projeto, construtivamente, propondo o diálogo e respeitando as atitudes de quem não desejasse participar em processos de mudança.
Eu acompanhava esses educadores dotados de um estranha fé e que diziam não existir amor verdadeiro sem desprendimento e confiança.
Por: José Pacheco