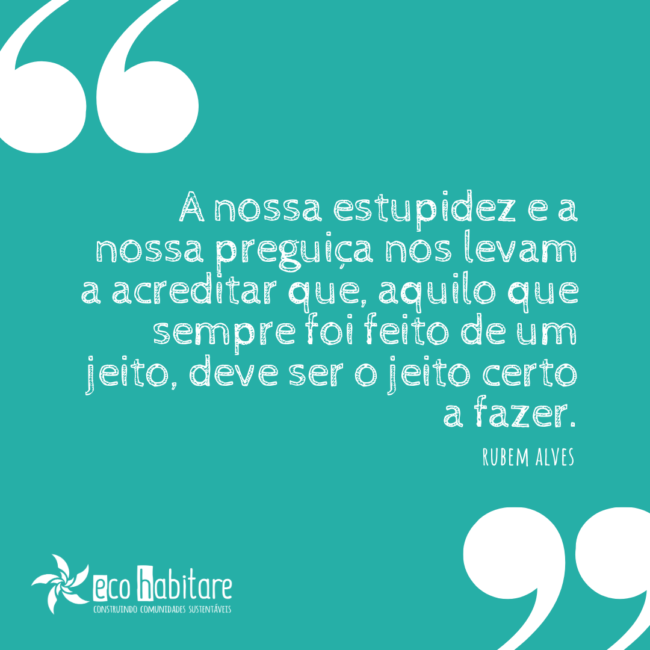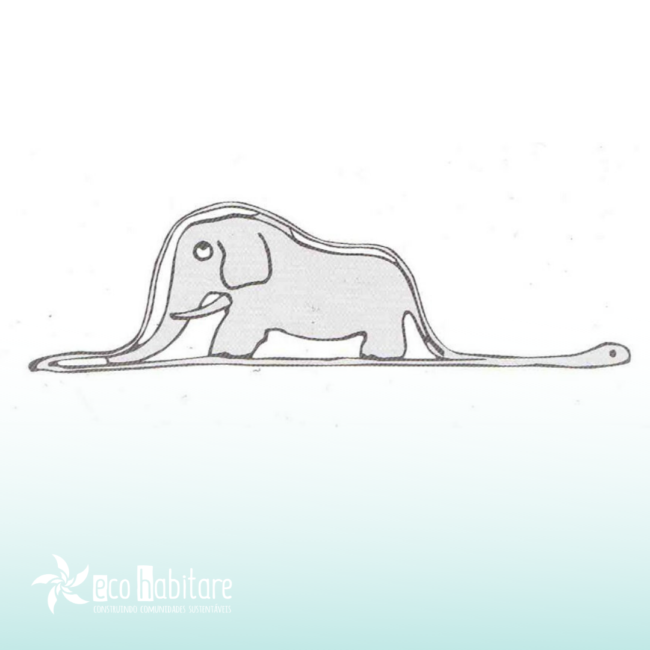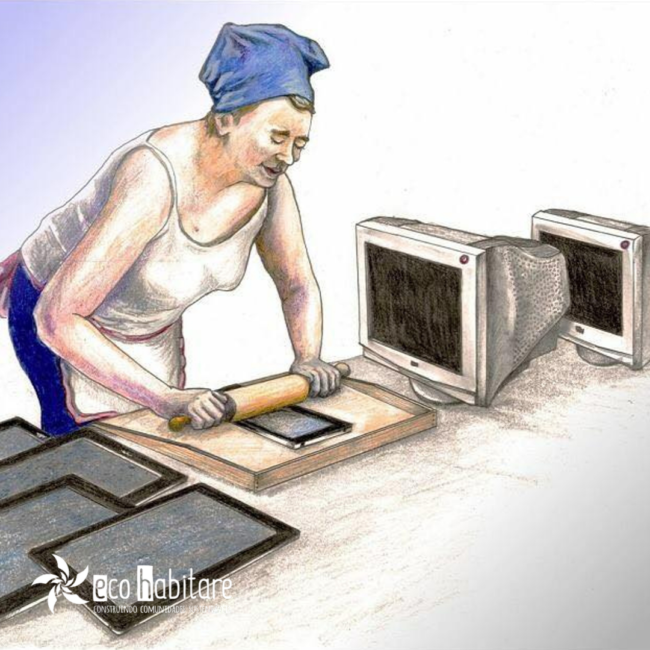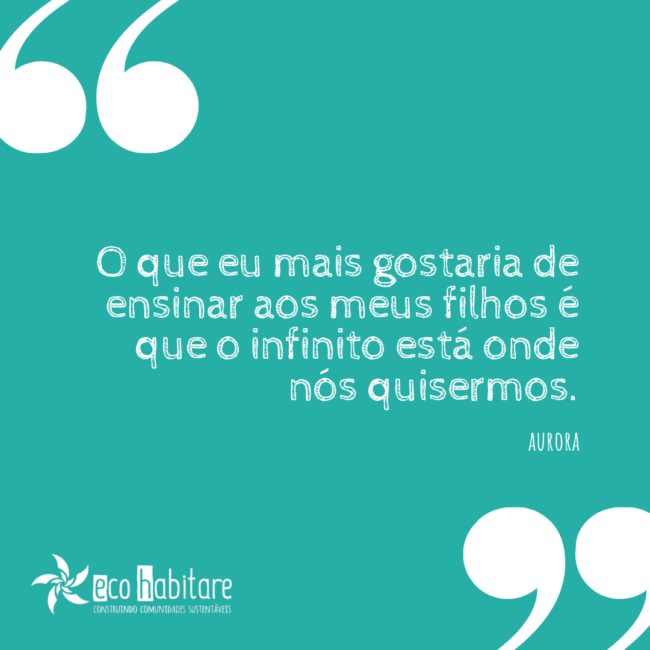Joanópolis, março de 2041,
Hoje, será a vez de vos falar de dois professores que “davam a quarta classe”. Um era moço e inexperiente. A outra era mulher na casa dos sessenta de idade e levava de vantagem quarenta anos de brilhantes avaliações de desempenho, que lhe conferiam fama de boa professora. Fazia alarde da auréola e gabava-se de que qualquer aluno que levasse a exame só poderia de lá sair aprovado e com distinção.
De tão rigorosa e cumpridora, também cumpria a percentagem estabelecida de reprovações. Em consonância com os ideólogos do regime, postulava que “nem todos podiam dar doutores”. E, do alto da experiência, dava como exemplo o caso do Toino Bica que, já entrado nos doze, passava as aulas a dormitar na “fila dos burros”.
A afetividade também era conhecimento construído através da vivência. Aceitar o ser humano como um ser afetivo, que pensava e sentia simultaneamente, implicaria um outro olhar sobre as práticas, que não poderiam ser restringidas à dimensão cognitiva. As escolas deveriam entender mais de seres humanos e de amor, do que de conteúdos e técnicas educativas, mas contribuíam em demasia para a construção de neuróticos, por não entenderem de amor, de sonhos. E o meu amigo Rubem assim resumia o seu saber e sentir: As rotinas e repetições têm um curioso efeito sobre o pensamento: o paralisam. A nossa estupidez e a nossa preguiça nos levam a acreditar que, aquilo que sempre foi feito de um jeito, deve ser o jeito certo a fazer.
Evoco estes autores porque, em meados da década de 1970 do século passado, embora fosse de confecção em cada escola, ainda era tempo de “exame de quarta classe”. Pelo final de junho, a professora antiga já tinha o exame preparado, mas teve para com o jovem colega uma gentileza inédita: O colega não quer acrescentar qualquer coisa à prova?
O colega quis. O poema do Torga, que encimava o teste, estava semeado de fabulosas imagens e falava de amor. E a meia dúzia de perguntas escolhidas pela velha e experiente professora somente visavam respostas diretas, do tipo: Onde estava o x? O que tinha feito o y? Quem tinha visto o z? Para não tornar o interrogatório demasiado longo, o jovem professor apenas acrescentou uma questão.
Como todas as provas que se prezam, esta começou pela leitura e interpretação do texto. Os alunos enfronharam-se nas ditas. Mas, volvidos alguns minutos, um após outro, todos os alunos da velha e experiente professora suspenderam a escrita. Ora coçavam a cabeça, ora manifestavam outros sinais de impaciência e até de angústia.
O professor novo e inexperiente apercebeu-se de que haviam esbarrado na pergunta número sete. E não ousavam passar-lhe à frente, porque a senhora professora era exigente e tinha avisado que não poderiam deixar qualquer das perguntas para trás, sem resposta.
Quase todos os alunos do professor moço e inexperiente já estavam a acabar a redacção de vinte linhas e tópicos obrigatórios, quando algumas lágrimas já assomavam nos olhos suplicantes de alguns dos óptimos alunos da velha e experiente professora. O professor não se conteve. Foi junto de cada um e sussurrou-lhes uma qualquer mensagem ao ouvido, que os deixou aliviados e lhes permitiu desencalhar o raciocínio… e a sensibilidade.
Acrescente-se que a sétima das questões era imperativa e rezava assim: “Depois de leres este bonito poema, diz o que é, para ti, o amor.”
Com Amor, o vosso avô José
Por: José Pacheco