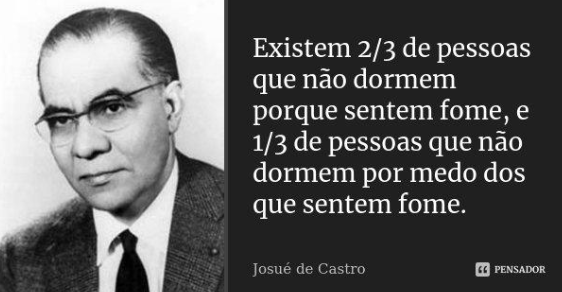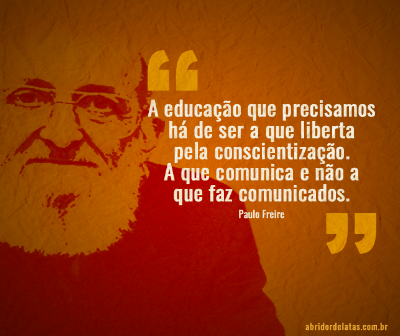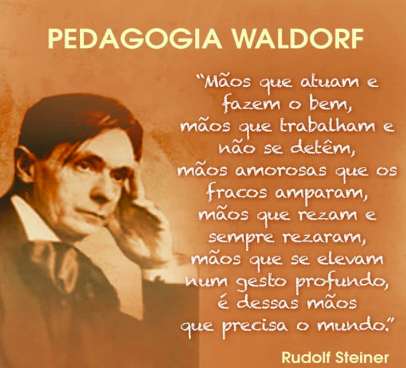Campo Maior, 25 de setembro de 2043
Nos idos de oitenta, fui com as crianças da Ponte até Campo Maior, visitar a fábrica de Cafés Delta. Lá voltei, no setembro de 2023, a convite do Luís Sebastião, do Centro Educativo Alice Nabeiro (da Fundação Coração Delta) e de um grupo de antigos alunos do Professor Manuel Ferreira Patrício.
Como escreveu o Luís:
“Com o propósito de algum modo, usar o seu pensamento e a sua obra como pretexto para repensar a educação numa perspetiva de melhoria e mudança.
Uma das intenções deste grupo é o de realizar, sempre em setembro, mês em que o Professor Patrício nasceu e morreu, e sempre em Campo Maior, uma conferência sobre educação feita por um “autor”, no sentido de alguém com pensamento próprio e obra feita.”
No ano anterior, a primeira conferência fora proferida pelo amigo Nóvoa, a propósito da publicação do relatório da UNESCO de que tinha sido redator.
O Luís escreveu no email-convite que o bom povo de Campo Maior “gostaria muito de que a segunda conferência fosse proferida pelo Sr. Professor”. Mesmo consciente da difícil tarefa de acrescentar algo útil ao discurso de um Mestre da dimensão de António Nóvoa, aceitei o convite.
Quando, nos idos de vinte e três, se escrevia sobre educação integral, era comum o teórico se “esquecer” de citar a proposta de “Escola Cultural do saudoso Professor Manuel Patrício. Também chamada de “Educação Pluridimensional”, denotava influências da Escola Nova – Claparède, Montessori, Dewey… – mas, as maiores influências teriam sido Comenius, em cuja filosofia o Professor Patrício se revia, e Leonardo Coimbra, filosósofo da educação de cariz humanista e personalista, que propõe uma nova Paideia, visando a educação integral do ser humano.
A escola era considerada numa perspectiva multidimensional. O programa educativo escolar possuia três dimensões, aproximando-se da conceção de currículo tridimensional, que ensaiamos na terceira década deste século. Cada uma das dimensões tinha um papel a desempenhar na transmissão do legado cultural e na criação cultural.
Isso intuíra nas intervenções do Professor Patrício, aquando dos trabalhos da Comissão da Reforma do Sistema Educativo (em 1984 e 1985), bem como nos encontros promovidos pelo Instituto de Inovação Educacional dos idos de noventa.
Havia lido no site do Centro Educativo Alice Nabeiro, um lema: “Todos somos líderes das nossas ideias”. E no site da empresa, a Missão: “O nosso contínuo compromisso com a sustentabilidade é uma manifestação viva dos valores do nosso fundador. Continuar a assegurar a nossa rentabilidade económica, reduzindo o impacto ambiental e maximizando o impacto social positivo, é a nossa maior determinação. Será este o nosso futuro, materializado pela nossa estratégia de sustentabilidade global, desenhada em torno da nossa contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.
A intenção era a de tornar as conferências Manuel Ferreira Patrício um local e um tempo de encontro da comunidade educativa. “Que as conferências sejam presenciais e que seja possível conviver-se, debater-se e sonhar-se o futuro da educação em comunidade. Desejamos, naturalmente que se venham a tornar uma referência nacional”, acrescentava o amigo Luís.
À distância de vinte anos, poderei dizer que o sonho do Luís, da Dionísia, dos empresários e do Centro Educativo foi bem mais longe do que poderíamos imaginar. E o que vivi e senti em Campo Maior me devolveu a esperança de Portugal entrar no século XXI da Educação. Ainda hoje, nutro por aquela boa gente um profundo sentimento de gratidão.
Por: José Pacheco