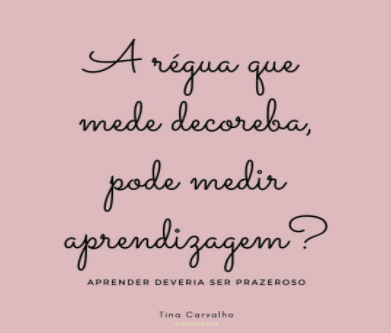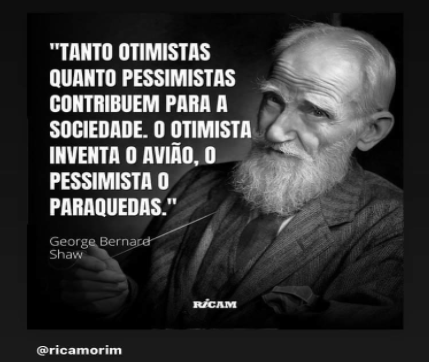Alcains, 18 de março de 2042
Nos dicionários, o termo “reprodução” referia-se, quase exclusivamente, a conceitos como o de procriação, mas o Bordieu alertara-nos para a reprodução escolar, que era, também, social. Reproduzia-se a exclusão, o consumismo, o reforço do poder patriarcal, a competividade negativa… a guerra.
Por meados do mês de março de há vinte anos, mais de três milhões de pessoas tinham atravessado a fronteira da Ucrânia e se refugiado na Europa. Nesse mesmo mês, chegavam à Pampilhosa da Serra ucranianos forçados a enveredar por rotas de fuga. Ali, encontraram uma autarquia cônscia da necessidade de humanizar a educação e solidária com quem buscava um lugar seguro. Ali, indo além de estéreis divagações teóricas, se forjava uma nova educação.
Ao cabo de três semanas de guerra, centenas de civis ucranianos tinham sido mortos. E nem as crianças eram poupadas à sanha assassina. Mais de uma centena tinha perecido. Aquelas que chegavam careciam de quem as ajudasse a esquecer situações traumáticas.
Entre aqueles que as acolheram estava a “Doutora Borboleta”. A Cléo tinha vivido em contextos de extrema agressividade, fora testemunha de violências sofridas por uma das maiores comunidades brasileiras. Conseguira criar “fluxos de cuidado” em submundos onde “algumas vidas valem menos que outras vidas”. Participara na reinvenção do saber cuidar, para fazer face “às adversidades de caóticos cenários”, nos encontros com “modos de viver no cotidiano da comunidade/favela, frente às inúmeras violações dos direitos sociais e humanos”.
O Complexo do Alemão enfrentava, desde há décadas, uma intensa vulnerabilização, sobrevivendo na precariedade material, reinventando um viver decente. No Alemão, a Cléo, mulher palhaça, se envolveu na tarefa de libertar crianças vulnerabilizadas do horror de imagens de guerra, enquanto refletia sobre o papel sistémico da guerra e sobre o modo como contribuímos para esse flagelo.
Envolvida no quotidiano de crianças de dolorosa infância, dedicava-lhes a maior parte do seu tempo, ajudando-as a retomar a alegria de viver. No tempo que lhe sobrava de muitos afazeres, iniciava a redação de uma tese alicerçada no vivido e na solidariedade do amigo Emerson. Entregou-se ao estudo de comunidades de aprendizagem que, por essa altura, surgiam em lugares de reinventar o mundo.
No início deste século, pude partilhar a vida de um protótipo de comunidade: a Tamera. Dieter, um dos seus fundadores dissera:
“Aprendemos sobre os princípios universais da paz universal ao aprender sobre os princípios universais de comunidade. Toda a vida existe em comunidade. Se queremos sobreviver, precisamos de novas formas de comunidade; comunidade
com pessoas e povos, com animais e plantas, com todos os seres da natureza e da Criação”.
Carecíamos de “comunidades de coevolução, cooperação e apoio mútuo” entre todos os elementos, porque todos eles seguiam “a vontade da vida”. Todos eram guiados por “uma só entidade, por uma só consciência, por um mesmo código genético”. Juntos, formavam “a grande família da vida na Terra, na redescoberta do viver em comunidade”.
O estado de guerra dimanava de múltiplos sistemas de opressão. As estruturas civilizacionais assentavam na praga do patriarcado, no capitalismo, no racismo. Perante a guerra na Ucrânia, os apelos à paz eram inofensivos. As sanções econômicas eram paliativas.
Urgia conceber um “sistema” educacional fundado na compaixão, no cuidado… na cura. Urgia unir a família, a sociedade e a escola num projeto comum de reinvenção da vida.
Por: José Pacheco