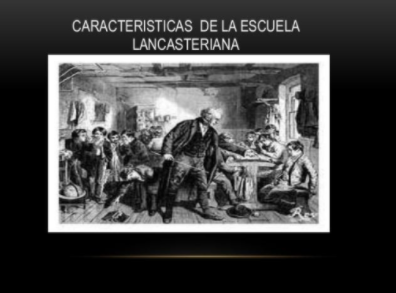Penedo, 16 de março de 2041
No tempo dos dinossauros da educação, escutei uma mãe indignada queixar-se de o seu filho não querer ir para a escola, porque a professora lhe batia. Ao que parece, naquele recuado tempo, a mestra usava a régua como auxiliar de instrução.
A senhora dirigiu-me a palavra. Eu respondi que não queria acreditar, que não considerava que fosse possível tal comportamento. Assegurou-me que sim, que tinha sido tal e qual. Procurei uma rebuscada explicação, para justificar o estranho costume. Aleguei eventual desgaste psíquico da professora e que teria sido um incidente apenas.
“Não é isso, não, professor! É quase todos os dias. Só não bate quando vai ao bar da esquina. Isso é coisa de professora, é?”
“Se as professoras vão ao bar, talvez seja porque não têm chá e café na escola” – repliquei, em abono da corporação.
“O senhor não entendeu. As professoras vão ao bar no tempo em que deviam estar a dar aulas. Ó, senhor professor, as escolas de hoje não são muito diferentes da que nós tivemos! A professora do meu filho até me faz lembrar a Dona Bertinha.”
Tangeram a minha corda sensível e logo perguntei:
“Quem é a Dona Bertinha?”
“Quem é, não! Quem foi!” – retorquiram os meus amigos, de quem a Dona Bertinha tinha sido mestra. E logo desfiaram uma história, que abreviarei, para não vos cansar.
Contrastando com a fineza de estilo de outras professoras do seu tempo – e com o perfil que o diminutivo poderia sugerir – a Dona Bertinha nutria ressentimentos face aos seus alunos e assumia-os. Quase no fim de uma carreira de mais de quarenta anos, a matriarca fazia questão de sublinhar que, quando morresse, “queria ir para o inferno, porque o céu deveria estar cheio de criançada”.
A “criançada” fora culpada de uma queda, que lhe fez partir o fémur e passar metade da vida apoiada numa bengala. Este utensílio, presumivelmente utilizado no restabelecer do equilíbrio, foi recurso prodigamente utilizado “no lombo dos pequenos diabretes, que a puseram assim”.
Fique sabendo o leitor que era esse rude atributo que “fazia a diferença”. A Dona Bertinha era apontada como exemplo, unanimemente considerada a melhor de quantas professoras havia na região. Não porque o “seu método” fosse diferente do “método” das outras professoras, mas porque, no ocaso da carreira – quando “a idade era um posto”, como gostava de realçar – era considerada como “uma professora que se dava ao respeito” (sic). Não constava que alguma vez, tivesse questionado o “seu método” porque, como costumava dizer, “a letra com sangue entra”. E por convencimento de que o pior dos defeitos que um professor poderia ter era o de perder tempo a pensar.
Durante mais de quarenta anos, a Dona Bertinha contou os dias que lhe faltavam para a sua “bendita aposentadoria”. E lá se foi, um dia, na paz dos simples, sem se ter apercebido da riqueza do pensar sobre o que se faz.
Nos idos de vinte, ainda era suposto que, se o professor leccionasse, a aula serviria para que o aluno aprendesse a lição. Os mestres fingiam que ensinavam e escassos eram aqueles que aprendiam. Vivia-se na ilusão de que, trocando a violência física pela violência simbólica, algo se modificaria.
Ledo engano! Entre a bengalada certeira da Dona Bertinha e a disciplina de caserna imposta por docentes “tradicionais” e por professores e militares em serviço nas escolas “cívico-militares”, distavam algumas décadas e nenhuma alteração no estilo. Uma distância temporal despicienda, se considerarmos serem as mudanças em educação tremendamente morosas, em decorrência de um “ensino tradicional” enraizadíssimo nos costumes.
Por: José Pacheco
 675total visits,2visits today
675total visits,2visits today