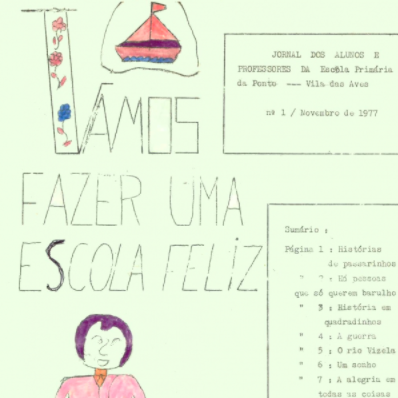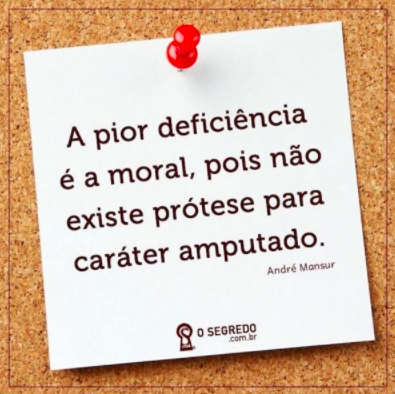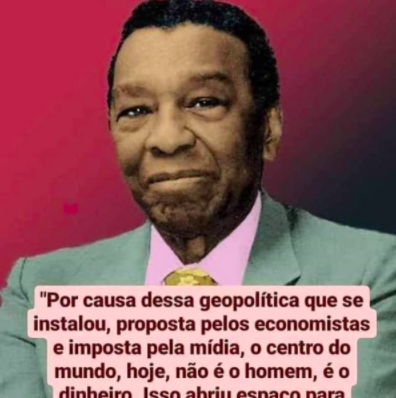Atalaia, 17 de janeiro de 2041
No janeiro de há vinte anos, países europeus adiavam o “regresso às aulas”, depois de estudos apontarem para um maior papel das crianças e adolescentes na transmissão do vírus. Na Espanha, muitas regiões mantinham as escolas sem aulas, devido às altas taxas de incidência do coronavírus e por causa do frio. Na Alemanha, as escolas continuavam fechadas desde que fora decretado o segundo confinamento. A Itália optou por manter as escolas fechadas e as aulas em regime virtual. Na Áustria, o ministro da educação dizia não ser possível dizer quando recomeçaria o ensino presencial.
Em Portugal, a Igreja Católica apenas mantinha o serviço de missa e funeral, suspendendo por completo casamentos e batizados. No Brasil, o Conass, que reunia os responsáveis pela saúde nos estados, pedia ao ministro da educação que a prova do ENEM fosse adiada:
“Apesar de os jovens terem menor risco de desenvolver formas graves, o aumento da circulação do vírus nesta população pode ocasionar um aumento da transmissão nos grupos mais vulneráveis”,
A medicina e a prudência recomendavam o isolamento social como uma das medidas mais eficazes para impedir a propagação da doença. Secretários estaduais de Saúde imploravam que não houvesse grandes aglomerações. Mas, o ministério lançaria mais de seis milhões de alunos num inútil e perigoso Enem. Inútil, porque essa prova era mero instrumento de darwinismo social. Perigoso, por não estarem garantidas condições de não propagação do vírus. O meu amigo André manifestava a sua revolta:
“Com o aval das universidades, os necroinstrutores abandonaram o discurso em defesa da ciência, para assistir ao infausto acontecimento, como faria um avestruz. Tudo por causa do mercado chamado vestibular e dos sucedâneos cursinhos”.
Betinho avisara:
“A sociedade que não cuida de seus jovens já iniciou o seu suicídio enquanto sociedade”.
Nos hospitais de Manaus, morria-se sufocado por falta de oxigênio. E a primeira reação de bom senso e proteção da juventude veio de lá. O Governo do Estado decidiu não liberar escolas para aplicação do Enem. A Justiça Federal mandou suspender a realização do exame, até ao fim do estado de calamidade pública, mas cabia recurso da decisão. Uma ação civil pública pedia que as provas do Enem fossem aplicadas no estado só quando houvesse estrutura adequada para atendimento de casos de covid-19:
“Além de representar maior circulação do vírus pela cidade, a exposição dos estudantes ao risco de infecção e a insistência na aplicação das provas em janeiro são medidas ilícitas, pois colocam os estudantes e suas famílias em risco aumentado e contribuem para a sobrecarga e o colapso do já insuficiente sistema de saúde local”.
Preocupados com as previstas aglomerações, candidatos planejavam usar até duas máscaras. Para a Priscila, jovem inscrita nesse exame, o cenário era preocupante:
“Sou asmática e meu pai é diabético. Estou inclinada a desistir porque minha vida e a dos meus familiares vale mais do que uma prova. Mesmo olhando os protocolos, acho um risco fazer a prova”.
A suspensão do Enem seria um gesto de bom senso, mas o bom senso era um bem escasso – vivíamos num tempo de criminosa insensatez. O impacto da crise mundial na vida dos jovens fora intensa. A perda completa da socialização com amigos e professores impelia-os ao reencontro. A miragem do acesso à Universidade prevalecia sobre o receio de contágio. E a tragédia se consumou.
Por capricho ou ironia do destino, na semana que antecedeu o exame, o Diretor do Inep, órgão responsável pelo Enem morreu… de covid-19.
Por: José Pacheco