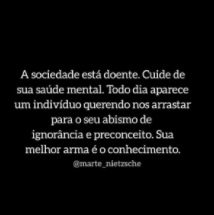Passos, 7 de janeiro de 2041
No janeiro de há vinte anos, enviei uma fraterna mensagem a centenas de educadores de vários países, ainda que o e-mail portador da mensagem tivesse como destinos prioritários Portugal e Brasil.
Ela era portadora de um convite. Décadas de tentativas frustradas tinham propiciado uma formação experiencial, que garantiria o êxito do projeto. Legal e cientificamente fundamentado, ele se apresentava como um dos caminhos possíveis para uma educação do século XXI, uma educação comunitariamente integrada.
Anexo ao convite, seguia um documento que dava pelo nome de “Plano de Inovação” – isso mesmo: de inovação se tratava – acompanhado de uma minuta de “Termo de Autonomia”. O artigo 15º da LDB era explícito e o projeto apenas seria viável em situação de estabilidade e autonomia. A Ponte o havia demonstrado, quando celebrou com o estado português o primeiro contrato de autonomia.
O primeiro passo consistiu em organizar um núcleo de projeto, dispositivo central do processo de mudança das práticas. Esse núcleo brotou no encontro entre professores, pais de alunos, comunidade. Considerada a escola como nodo de uma rede de aprendizagem, seria conveniente constituir parcerias, identificar o potencial educativo local, criar condições de eco sustentabilidade. O estímulo do espírito inventivo conduziu à criação de soluções novas, à assunção de responsabilidade social, princípio ético que nos diz que tudo o que for inovado o deva ser para benefício coletivo.
Seguiu-se a criação de “turmas-piloto”. Como tudo aconteceu vos contarei em próximas cartinhas. Agora, voltemos à Brasília do janeiro de 2021. O senador Izalci lamentava:
“Infelizmente, a educação só é prioridade no discurso. Toda vez que se fala em recurso há uma resistência, seja do Ministério da Economia, seja dos governantes de plantão. Infelizmente, ainda não chegamos a um governo que entenda a educação como prioridade real do país”.
O grande desafio para a educação em 2021, evidentemente, é que possamos cada vez mais valorizar os bons exemplos que existem em alguns municípios. Espero que melhoremos cada vez mais a educação pública de base, que é um desafio, por tratar-se do mais valioso instrumento de igualdade e oportunidade para o Brasil que queremos. Quero ver um DF como referência nacional e até internacional, principalmente na qualidade de vida das pessoas, em seus principais pilares: saúde, segurança, educação e desenvolvimento social”.
Entre os anos setenta e o início deste século, milhares de pessoas provindas de muitos países, visitaram a Ponte. Nela colheram ensinamentos e inspiração. Na segunda década deste século, a Escola do Projeto Âncora viveu uma situação idêntica. Acolheu educadores sedentos de mudança e ajudou a transformar sonhos em realidades.
O senador veria “um DF como referência nacional e até internacional”. Assistiria à chegada a Brasília de inúmeros educadores, que desejavam conhecer os projetos em curso. Uma rede de comunidades de aprendizagem nascia em 2021. E eu via repetir-se o fenômeno do “turismo educacional”, que havia presenciado na Escola da Ponte e no Projeto Âncora.
Participei de um projeto da iniciativa desse senador, chamado “Brasília 2060”. No seu gabinete de ainda deputado, com ele conversei sobre educação. E ele não precisou de esperar pelos anos sessenta. A educação a que os brasileiros aspiravam se tornou realidade em meados da década de trinta. Há meia dúzia de anos, educadores éticos alcançaram o objetivo maior: a todos se garantiu o direito à educação.
Por: José Pacheco