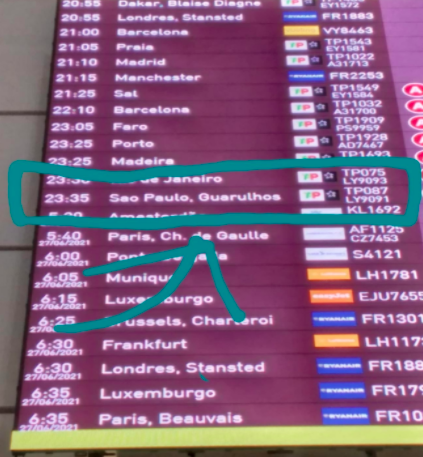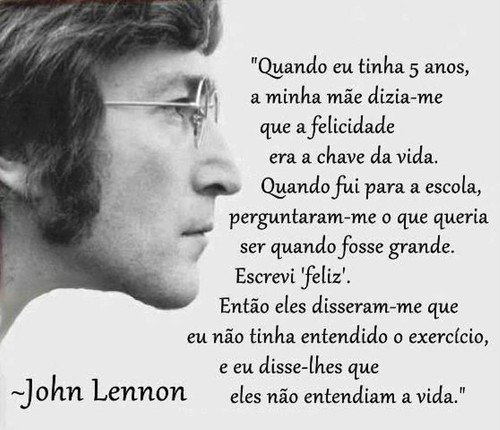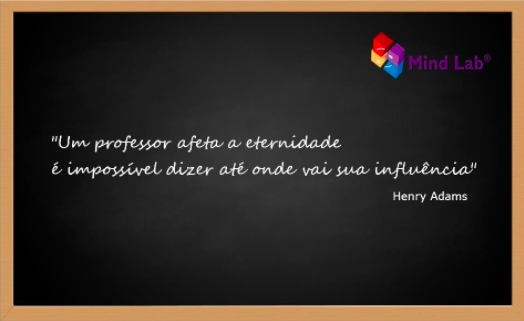Seixal, 30 de junho de 2041
Esta cartinha funciona como válvula de escape da perturbação que se instalou no meu espírito num debate sobre mais um projeto de “gestão flexível do currículo”. Foi no final da segunda década do nosso século que o ministério lançou um projeto designado “Autonomia e flexibilização curricular”.
Eu já havia passado por quatro projetos de “flexibilização” e nada tinha sido flexibilizado. Expus algumas preocupações, nomeadamente, sobre a necessidade de aprofundar o conceito de ” flexibilização curricular”. Reconheço não o ter feito da melhor forma. Aqui estou, qual penitente, a redimir-me do pecado. Ou, porventura, a multiplicá-lo, ainda que fraternalmente.
A sua única intenção seria a de procurar evitar que a generosidade dos colegas que participam do projeto se convertesse, mais uma vez, em desilusão e em mais uma oportunidade perdida para a escola. E, se me permitem a imodéstia, teria o mérito de expor por escrito algumas críticas que fui ouvindo aqui e ali e que, por serem demasiado rasteiras, não chegavam até àqueles que delas mais beneficiariam. Que se há-de fazer, se eu tenho este péssimo hábito de escrever o que outros iam dizendo em surdina de sacristia?
Causou-me grande espanto e apreensão ver uma proposta de “flexibilização” reduzida a um singelo jogo de somas e subtrações de tempos letivos. Apercebi-me de que a ênfase na “organização” se referia a passar de trimestre para semestre e outras minudências. Não seria a “flexibilização” muito mais do que simples alterações na gestão de tempos, dos espaços, ou no elenco de conteúdos e matrizes curriculares?
O voluntarismo dos agrupamentos de escolas deveria ser realçado. Mas o entusiasmo, por si só, não era suficiente. Um projeto desse tipo pressupunha auto iniciativa, não se poderia restringir à adesão a propostas ministeriais. Essas propostas, por mais meritórias que fossem, deveriam ser reinterpretadas, permanentemente refletidas, não deveriam constituir-se em réplicas, cópias sem identidade. Foi o hábito de mera interpretação técnica de diretrizes, em detrimento da iniciativa das escolas, a mesma que condenou ao esquecimento muitas e úteis iniciativas. Foi a adesão linear a matrizes importadas que transformou a redacção dos regulamentos internos das escolas numa clonagem sem nexo.
No decurso de um debate, alguém perguntou por que se tinha reduzido tempos numa determinada disciplina e aumentado em outra. Ninguém se dignou responder. E haveria resposta?
Se a compartimentação disciplinar contrariava a emergência de verdadeiros projetos educativos, também a neurótica preocupação de dar o programa fazia prevalecer a lógica do ensino em detrimento da lógica da aprendizagem e produzia uma “caricatura” de flexibilização curricular, quando a restringia a um mero jogo de somas a subtrações de tempos letivos, do maior ou menor peso desta ou daquela disciplina.
Não se aproveitou a oportunidade criada para resolver o paradoxo que consistia em lamentar o escasso tempo disponível para “dar o programa” enquanto se desperdiçava uma grande fatia desse tempo em testes e no adestramento dos alunos em provas-modelo.
No essencial, tudo ficou como antes estava, quando era toda a cultura de escola que urgia mudar. Seria preciso saber se estaríamos a lançar andaimes onde assentasse um novo figurino de práticas de desenvolvimento curricular, ou se estaríamos apenas a pôr remendos em velhos vícios e rotinas. E o que mais me desgostava era o fato de ser alguém formado em ciências da educação quem coordenava mais uma farsa ministerial.
Por: José Pacheco