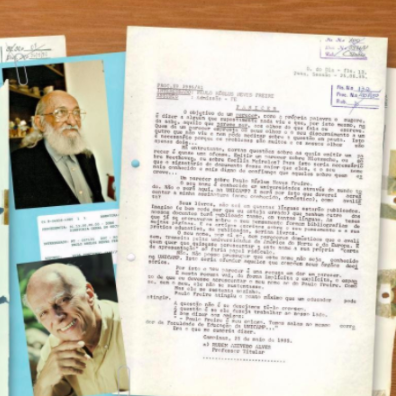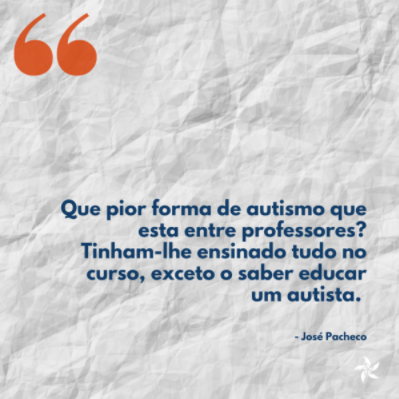Almada, 20 de setembro de 2041
Queridos netos,
Em setembro, se celebra o nascimento de dois amigos das crianças: Paulo Freire e Rubem Alves.
No mês de abril do ano 2000, o Rubem nos visitou. No ano seguinte, o seu nome foi dado a um dos espaços de aprendizagem da Ponte. Não só o nome, pois, nesse e em todos os espaços da escola se passou a sentir a sua perene presença.
Esse meu extremoso amigo partilhava os mesmos princípios e a mesma prática do Mestre Freire. E, quando lhe foi solicitada a redação de um “Parecer” sobre a reintegração de Paulo Feire na Universidade, o Rubem escreveu um “não-parecer”. Eis aquilo que o Rubem achou por bem escrever:
INTERESSADO: PAULO RÉGLUS NEVES FREIRE
P A R E C E R
O objetivo de um parecer, como a própria palavra o sugere, é dizer a alguém que supostamente nada viu e que, por isto mesmo, nada sabe, aquilo que parece ser, aos olhos do que fala ou escreve. Quem dá um parecer empresta os seus olhos, o seu discernimento a um outro que não viu e nem pôde meditar sobre a questão em pauta. Isto é necessário porque os problemas são muitos e os nossos olhos são apenas dois.
Há, entretanto, certas questões sobre as quais emitir um parecer é quase uma ofensa. Emitir um parecer sobre Nietzsche, ou sobre Beethoven, ou sobre Cecília Meireles? Para isto seria necessário que o signatário do documento fosse maior que eles, e o seu nome mais conhecido e mais digno de confiança que aqueles sobre quem escreve.
Um parecer sobre Paulo Réglus Neves Freire? O seu nome é conhecido em universidades através do mundo todo. Não o será aqui, na UNICAMP? E será por isto que deverei acrescentar a minha assinatura (nome conhecido, doméstico), como avalista?
Seus livros, não sei em quantas línguas estarão publicados. Imagino (e bem pode ser que eu esteja errado) que nenhum outro dos nossos docentes terá publicado tanto, em tantas línguas. As teses que já se escreveram sobre o seu pensamento formam bibliografias de muitas páginas. E os artigos escritos sobre o seu pensamento e a sua prática educativa, se publicados, seriam livros.
O seu nome, por si só, sem pareceres domésticos que o avalizem, transita pelas universidades da América do Norte e da Europa. E quem quer que quisesse acrescentar a este nome a sua própria “carta de apresentação” só faria papel ridículo.
Não. Não posso pressupor que este nome não seja conhecido na UNICAMP. Isto seria ofender aqueles que compõem seus órgãos decisórios.
Por isto o meu parecer é uma recusa em dar um parecer.
E nesta recusa vai, de forma implícita e explícita, o espanto de que eu devesse acrescentar o meu nome ao do Paulo Freire. Como se, sem o meu, ele não se sustentasse.
Mas ele se sustenta sozinho. Paulo Freire atingiu o ponto máximo que um educador pode atingir.
A questão não é se desejamos tê-lo conosco. A questão é se ele deseja trabalhar ao nosso lado.
É bom dizer aos amigos:
“Paulo Freire é meu colega. Temos salas no mesmo corredor da Faculdade de Educação da UNICAMP.”
Era o que me cumpria dizer.
Campinas, 25 de maio de 1985.
Rubem Azevedo Alves, Professor Titular.
Reintegrado, Freire foi professor de “Educação e Movimentos Sociais”, na UNICAMP, durante 10 anos. Em 2019, no prédio principal da Faculdade de Educação, uma placa foi descerrada com o seu nome, por iniciativa de estudantes envolvidos em círculos de cultura. Uma ex-aluna de Freire assim se manifestou:
“Este prédio foi inaugurado sem nome. E a reivindicação dos alunos se justifica por ser o lugar onde o professor Paulo Freire circulou e que ainda guarda a energia dele.”
O espírito do mestre habitava a Universidade. Mas ainda não morava no chão da escola pública.
Por: José Pacheco