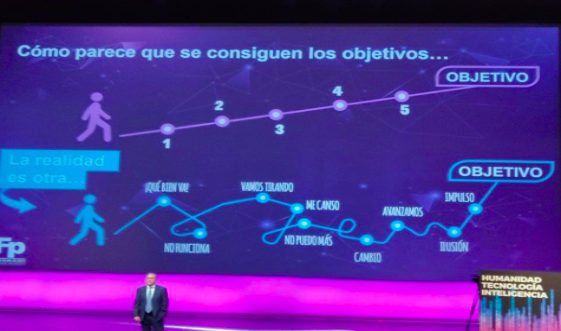Caçapava do Sul, 14 de fevereiro de 2042
No final da segunda década deste século, o incansável José e mais alguns colegas publicaram um estudo, que tinha por título “Os pais no Conselho Geral das escolas: Entre a retórica da ação estratégica e a subordinação múltipla”.
Ressalvadas as preocupações metodológicas, acolhi o estudo com algumas reservas, dado que fora conduzido por professores universitários. Como era apanágio desses colegas de ofício, o documento primava pelo rigor do enquadramento teórico. Mas, os estudos não iam além disso.
Os burocratas ministeriais tinham manhas de sete raposas. Findados os estudos, contas eram prestadas ao patrocinador, dados eram compilados, conclusões eram armazenados. O estudo seguinte começaria, quando alguma agência de financiamento liberasse verba. E terminaria de modo idêntico aos anteriores, quando a verba acabasse. E aí por diante, sem que benefício expresso resultasse dos ditos estudos.
Nos idos de setenta, o primeiro estudo (sem patrocínio) realizados na Escola da Ponte dava pelo nome de “Participação e Democraticidade”. Precisávamos saber qual a percepção dos pais dos nossos alunos, relativamente às mudanças operadas nos órgãos de direção e gestão. Por essa razão, me interessei por um estudo realizado cinquenta anos depois.
O estudo em causa visava saber como os pais percepcionavam o papel de uma aberração legislativa – o Conselho Geral das Escolas –, que valor lhe atribuíam, como se inscreviam na ação que aí desenvolviam.
Para tal, foi enviado um questionário aos pais que exerciam funções nesse órgão. Posteriormente, os itens foram categorizados em seis dimensões: participação, deliberação, focalização, divulgação, relevância e relação entre pais e diretor. O questionário foi administrado on-line, entre finais de 2017 e o início de 2018. Transcrevo as principais conclusões:
“Expressiva dispersão de resultados, evidenciando uma visão heterogénea sobre as funções e relevância estratégica do CGE, o reconhecimento do condicionamento dos poderes externos (sediados no Ministério da Educação) e internos adstritos ao poder cognoscitivo dos professores e do diretor, uma sobrevalorização simbólica do órgão que não correspondia à ação concreta, e uma visão restrita de comunidade educativa, onde não cabem a autarquia e os alunos”.
A base normativa fora instituída por um decreto-Lei que a si próprio se justificava com a necessidade de perseguir três objetivos: “reforçar a participação das famílias e comunidades na direção estratégica dos estabelecimentos de ensino; reforçar as lideranças das escolas; reforçar a autonomia das escolas”.
A hipocrisia do legislador não teve limites. Na prática, a revisão do regime jurídico da autonomia, administração e gestão das escolas em nada concorria para uma maior participação da comunidade. E instalava nas escolas mais um faz-de-conta de autonomia.
Afirmava-se pretender instituir normas que garantissem e promovessem o reforço progressivo da autonomia, e a maior flexibilização organizacional e pedagógica das escolas. Mas, retrocedíamos a uma situação anterior ao ordenamento jurídico de 1989.
O contrato de autonomia celebrado entre a Ponte e o ministério, em 2004, foi descaracterizado. Unilateralmente, a má-fé ministerial o rasgou. Em 2012, reduzida a autonomia, desrespeitada a vontade dos pais, foi imposto à Escola da Ponte o degredo em solo hostil. Em 2022, voltei ao lugar onde o projeto criara raízes.
“Para quê, avô?” – estareis a pensar. Para ajudar a Ponte a retomar caminhos de autonomia.
Por: José Pacheco
 403total visits,2visits today
403total visits,2visits today