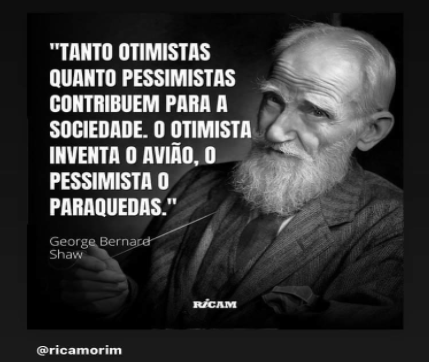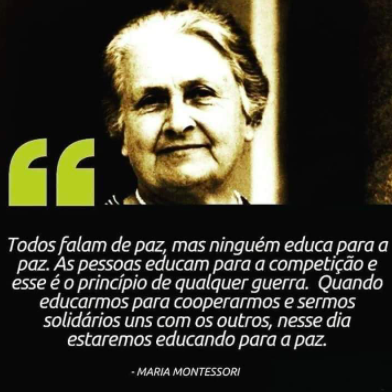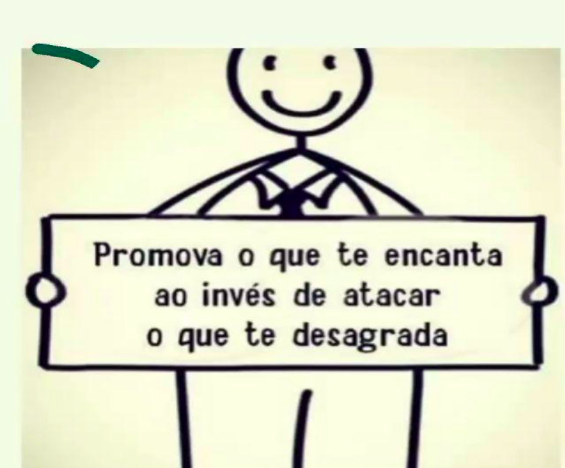Alcabideche, 10 de março de 2042
Na primeira vez que, em terras de França, apresentei o projeto “Fazer a Ponte”, o comentário foi este:
“Isso é tudo muito lindo, mas tudo não passa de teoria!”
Franceses, ingleses e alemães se mancomunaram na detratação do projeto. Por mais que lhes dissesse que estava falar de uma prática, nada feito! À exceção dos gregos e dos italianos, foi uníssono o comentário. Daí que, nas minhas falas, eu passasse a usar de metáforas e a exagerar nas aspas.
Tal como na estória “o velho, o rapaz e o burro”, choveram as críticas dos acadêmicos:
“Deve pôr mais notas nos seus textos, citações, indicar bibliografia, ser menos metafórico”.
Eu assenti. Sem querer ser mordaz, esclareci que o artifício funcionava como uma espécie de proteção. Quem escrevia sobre Educação num discurso sem aspas, arriscava-se a acabar os seus dias no divã do psiquiatra. Com o objetivo de escapar ao linguarejar “objetivo”, reincidia no uso excessivo de aspas. E, certa vez, usei-as para, num arremedo de “taxinomia”, descrever os professores que tinham passado pela Ponte.
Por lá, tal como em outras escolas, havia professores que tomavam consciência da obsolescência do dito “ensino tradicional” e, também, quem nunca tivesse “perdido tempo a pensar nisso”.
Os primeiros dividam-se em dois tipos: os que tentavam melhorar a sua prática (os “bem-intencionados”) e os que se faziam desentendidos, pois sabiam que deveriam mudar, mas não mudavam. Estes eram os “cínicos” (nesta tipologia, quase dispensaria as aspas).
Os “bem-intencionados” subdividiam-se entre “praticistas”, “modistas” e “inovadores”.
Os “praticistas” acreditavam que, para melhorar o seu desempenho, bastaria o “jeitinho” e a “experiência acumulada”. Por sua vez, estes poderiam ser divididos em dois subtipos: os que conseguiam efeitos inconsequentes, que pouco ou nada mudavam no essencial – eram os “imediatistas artesanais” – e aqueles que desistiam de modificar a sua prática, porque “já não estavam em idade para se meterem em aventuras”. Estes eram os “desistentes crónicos”.
Os “modistas” copiavam “modas pedagógicas”, enfeitavam o “ensino tradicional” com modernos artefatos, criavam a aparência de novo. Eram uma espécie de “construtivistas não-praticantes” e subdividiam-se em duas espécies: os “travestis pedagógicos”, que se mantinham na segurança do ensino transmissivo oculto sob o manto diáfano de um cenário de modernidade, e os “militantes sazonais”, que mudavam de moda em conformidade com a que estivesse mais “in”, com a justificação de que “o que tinham tentado fazer não resultaria”.
Os inovadores eram uma espécie rara. Poderíamos considerá-la mesmo em vias de extinção. Dividiam-se entre “neutralizáveis” e “resilientes”. Os “neutralizáveis” eram os alvos preferidos de quem lhes destruía os projetos e, não raras vezes, a saúde mental.
Os “neutralizáveis” eram dignos de alinhar ao lado de um Ferrer fuzilado, ou de uma Louise deportada, numa “martiriologia” cujo rol só não se alongou, porque longe já ia o tempo da inquisição que imolara Giordano e assustara o Galileu.
Os “resilientes” lograram encontrar uma “gramática da sobrevivência dos projetos”, que lhes permitiu ludibriar o sistema.
Proponho, queridos netos, que coloqueis ciência no lugar da metáfora e um discurso limpo no lugar das aspas. A terminologia que eu utilizava carecia de uma melhor definição de conceitos, por exemplo, com recurso aos “ideais-tipo weberianos”. Mas, isso seria tarefa para alguém mais entendido do que eu, que não passava de um mero aprendiz de utopias.
Por: José Pacheco