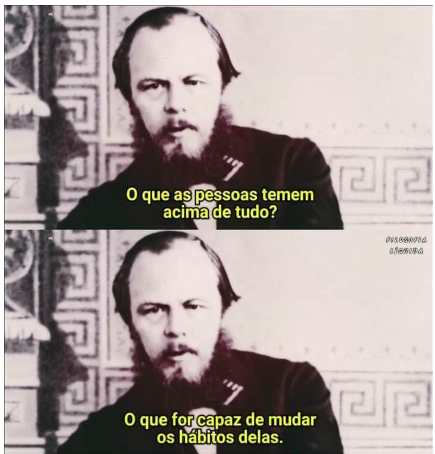Setúbal, 16 de maio de 2042
Já levava vinte anos de voluntário exílio, quando uma enxurrada de e-mails instalou o caos na minha caixa de correio eletrônico. Eram professores, escolas, famílias, autarcas, gente que me pedia ajuda. Acreditava que me tivessem esquecido e não conseguia entender o motivo de súbitas solicitações.
Acedi a voltar a Portugal, com muito ceticismo na bagagem, confesso. Por lá fiquei, durante quase um ano. Valeu a pena. Em meados de vinte e dois, mais de cinquenta projetos se organizaram num protótipo de rede de comunidades de aprendizagem.
Entretanto, pude deambular por escolas que a esse projeto não aderiram. Em reuniões “autorizadas” com as suas direções, tentei fazer-lhes entender a importância da sua participação na criação de uma nova construção social. Em vão tentei. Mas consegui adentrar os prédios chamados “centros educativos”.
Foi um susto repetido. Era inconcebível, assustadora a ideia de as escolas se manterem fiéis ao paradigma da escola-presídio, adoptado pelas congéneres do século XIX. Apesar de tiques de modernidade, os arquitetos do Parque Escola agiam em conformidade com o modelo de escola-caserna, que inspirou os seus diabólicos criadores.
Enquanto cogitava sobre o modista conceito de “escola integrada na comunidade”, visitei escolas que tinham portões fechados e vigilantes nas portarias. Esperava do lado de fora, até que o portão se abrisse e o vigilante me pedisse o bilhete de identidade. Em troca, entregava-me um cartão para pôr ao peito. Em seguida, uma funcionária conduzia-me por corredores ladeados de salas de aula, avisando:
“O senhor doutor” deu-me ordens para o acompanhar, mas pediu que seja breve a visita! Faça favor, por aqui! Pode entrar”.
Naquele tempo, os diretores de agrupamento eram tratados por “doutores” – embora o não fossem – e controlavam apáticas escolas, alheios à “Idade da Educação”, que já acontecia em espaços intersticiais apenas acessíveis a olhares que se não deixavam corromper.
Todos os dias, chegavam notícias de discretos prodígios operados por professores que não esperavam e recriavam. O ofício do educador era meticuloso, trabalho de precisão, como o dos ourives. Mas um trabalho que não admitia que a criança fosse cobaia de laboratório, pois era um bem mais precioso que o ouro.
Se um educador recusasse refletir sobre o seu ofício, se ousasse não o recriar (o que seria de esperar de um trabalhador intelectual), pedia-lhe que se abstivesse de se aventurar em modas. Eram modismos o que se oferecia aos professores, sob pretexto de os “capacitar para novas práticas”, supostamente centradas no aluno, mas efetivamente centradas no professor.
Rogers escreveu:
“Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceite, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, e para progredir numa via construtiva”.
Mas, séculos volvidos sobre Copérnico e Leonardo da Vinci, metade da população dos Estados Unidos ainda acreditava que era o Sol que girava em volta da Terra. Como poderíamos suportar a ideia de que uma professora acreditasse que Deus habitava a Lua e que, por essa razão, advertia os seus alunos de que os homens nunca poderiam lá ter estado, e que os astronautas eram bonecos animados?
Nos idos de vinte, um estudo revelou que metade das crianças japonesas nunca tinham visto um amanhecer ou um pôr-do-sol. E isso me fazia recordar palavras de Kalil Gibran:
“Vivemos somente para descobrir a beleza. Tudo o mais é uma forma de espera”. Foi-me dado viver num tempo de espera. Em 2022, compreendi por que tive de esperar.
Por: José Pacheco
 428total visits,6visits today
428total visits,6visits today