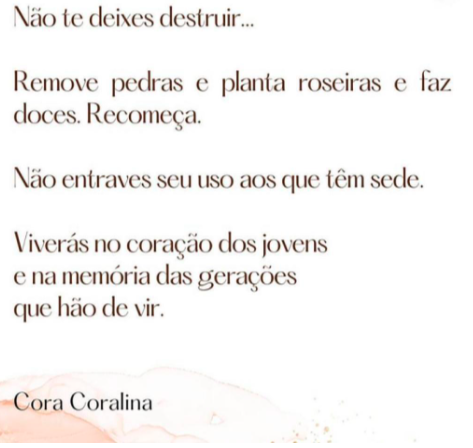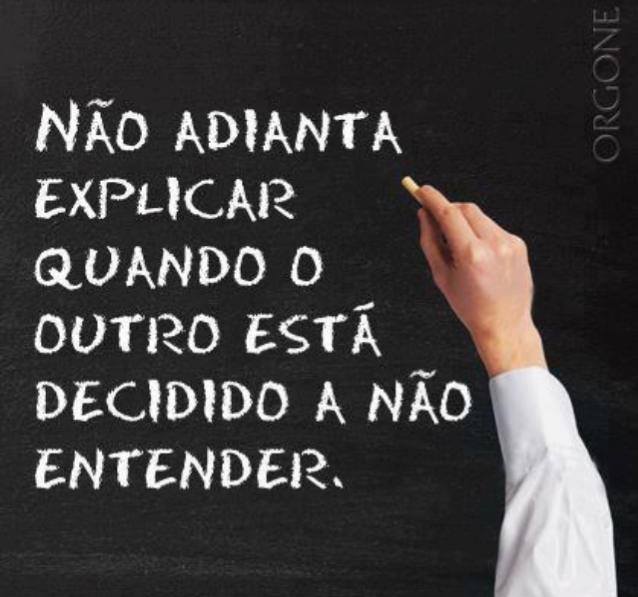Porto, 7 de maio de 2043
Da Amarante de vinte e três, guardo a memória de dois reencontros. Com o amigo Zé Carlos, regado a vinho tinto e na companhia de uma inequecível Maria. E com a amiga Emilia, recordando aos novos professores aquilo que, meio século antes, lembrara aos velhos de então.
A Emília me despertou para a manifestação de uma neo-normose. Avisado, rabisquei uma espécie de “guia” com “instruções”, que constavam de uma lista de tarefas. As prmeiras seriam a definição de uma matriz axiológica e um enunciado de princípios, instrumentos-guias de múltiplos percursos.
Não falávamos de uma fórmula, preceito ou modelo único. Na génese de uma nova construção social, os círculos refletiam caraterística comuns, diferentes de lugar para lugar. Depois, a federalização dos primeiros círculos daria origem aos primeiros protótipos de comunidade e deles emergiram redes de comunidades de aprendizagem.
Era essa a sequência adotada. Entre os meses de maio e junho de vinte e três, as manhãs de sábado animavam-se de dúvidas colocadas pela prática, que conduziram à elaboração de um rol de caraterísticas comuns antecedido de algumas interrogações.
“O que determina a opção pelo círculo de aprendizagem? A hegemonia do modelo transmissivo poderá afetar, futuramente, o desenvolvimento de culturas locais? Onde têm origem os projetos de círculo? Quem são os integrantes de um círculo? Como se aprende em círculo de aprendizagem? Como sobrevivem? Que vantagens apresentam? Que potencialidades, adaptações, limites?”
Nesta cartinha, vos deixo mais alguns excertos da “proposta teórica” dos círculos de aprendizagem. Para que saibais, em teoria, era fácil concebê-los. Na prática – melhor dizendo: práxis – não o era, nem sempre o seu surgimento estava isento de conflitos. Também por isso, o vosso avô aconselhava que, desde o primeiro momento, fossem compostas coordenações provisórias.
Estas coordenações funcionariam como equipes de preparação e instalação de órgaõs colegiados, escolhidos sociocraticamente e, sobretudo como círculo de estudos, que obedecesse a um critério básico: àquilo que possua potencial inovador não se deveria aplicar qualquer raciocínio dedutivo. A “proposta teórica” era ponto de partida para a identificação das características. Assim, poderia ser útil para o retomar da ideia da escola como espaço e tempo de uma formação com intensa relação com um desenvolvimento local sustentável.
Um círculo agia como um ecossistema de relações e mudanças simbólicas, gerador de significado para a mudança pessoal e cultural. E, no pressuposto de que uma aprendizagem humanizadora teria início por volta do quinto mês de gestação, desde cedo deveria medrar o vínculo intergeracional entre avós e netos. Sobretudo, durante os primeiros mil dias de vida.
No contexto de um círculo de aprendizagem, o professor-tutor estava situado nas descontinuidades e se prevenia para a eminência de reformulações do seu projeto pessoal. Firmava acordos tão precários como coerentes com o círculo cujos contornos de identidade social mais se aproximam da sua identidade pessoal. Era um profissional da educação ao serviço de um projeto, que uma comunidade adotara.
O seu projeto pessoal era um compromisso prudente com as possibilidades objetivas de um grupo aberto, no qual se resgatava criatividade marginalizada.
Era tempo de nos determos na observação do banal quotidiano dos professores de escolas comuns, para refazermos certezas. Isso exigiria um estudo profundo, uma aprendizagem do desaprender.
Amanhã, disso vos falarei.
Por: José Pacheco