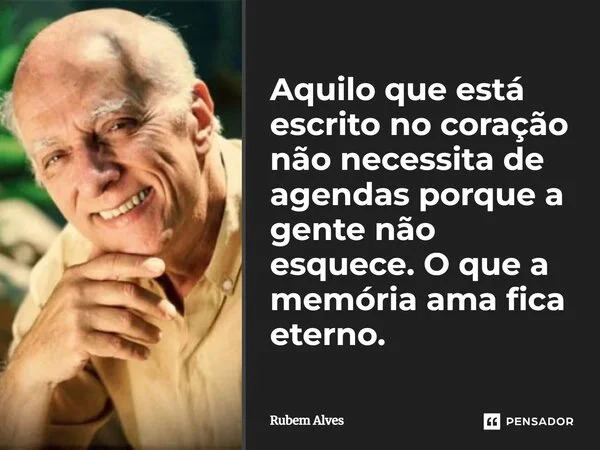Gama, 25 de julho de 2043
Quando eu só sabia “dar aula”, não entendia porque seria que, as dando tão bem dadas, havia sempre alunos que não aprendiam. Quando procurei ajuda dos companheiros de profissão, invariavelmente, esta era a resposta:
“Eles não conseguem acompanhar o ritmo das aulas. Têm dificuldades de aprendizagem. Alguns até são deficientes”.
Procurei a causa do insucesso escolar de alguns dos meus alunos. Alguma explicação deveria haver. Ou eu encontrava solução e a aplicava, ou mudaria de profissão. Acabei por encontrar três possíveis princípios de explicação.
Havia quem justificasse o insucesso com base na teoria dos dotes, que um senhor norte-americano havia inventado. Outros autores atribuíam o insucesso a razões de natureza sociocultural, ou econômica:
“Eles são pobres. Os pais são analfabetos. Eles não têm livros em casa”.
Medidas de educação compensatória, como as de Froebel, nos primeiros jardins de infância das favelas alemãs, ou as “Casas dei Bambini” de Maria Montessori, nas favelas italianas, tinham sido experimentadas, há mais de um século.
Numa escolinha da cidade do Porto, creio ter achado a solução do intrincado enigma – o insucesso era de natureza socioinstitucional. O modelo educacional herdado da revolução industrial do século XIX era o principal responsável pelo fracasso dos alunos e da escola.
Até aos anos vinte, os projetos de educação compensatória mecanizaram, desumanizaram o processo de aprendizagem, desculpabilizando uma escola que não acolhia, nem dava resposta à diversidade. No julho de vinte e três, Zara, secretária do ministério afirmava que “a Escola era a primeira experiência de crianças negras com racismo institucional”, Finalmente!
No Distrito Federal dos idos de vinte, professores pediam exoneração do cargo, após dois ou três anos de Bournout. O bem-estar da pessoa do professor era afetado pelo desencanto de situações-limite.
“Pega esse e esse, e passa-os de “esses e esses” para ela!
Eu era a professora nova. Eu ia com a ideia de ser uma boa professora. Davam-me uma turma de 30 alunos.
As mães diziam que eu passava pouco dever de casa. E eu deixava de lado algumas crianças, porque sentia que algumas crianças não davam trabalho. Mas também não aprendiam. Eu tentava ensinar trinta, mas…”
Na Escola-Classe 7 do Gama, participei num encontro de educadores cuidadores de educadores. Retomei projetos suspensos pela Covid e por um governo de má memória. E confirmei algo que, até então, só suspeitara.
Já deixara para trás quixotescas tentativas de transformação, muitos anos de andarilhagem, anos a fio a cuidar de outros, sem tempo para cuidar do próprio. Continuava sendo um europeu que confirmava o que Darcy afirmou: “O Brasil não é para amadores” – quanto mais conhecia o Brasil, menos o entendia. Réstias de etnocentrismo me condicionavam atitudes. E, em envolvido em querelas mais ou menos pedagógicas, eu havia perdido a serenidade. Quem me ajudaria a serenar? Quem agregaria o seu saber cuidar ao meu saber-fazer?
A Educação que se fazia na Escola da Modernidade carecia de uma ética do cuidar. Numa das personificações a que recorri nas cartinhas para a Alice, tentei explicar o que isso era:
A heráldica representa o pelicano de pé, asas abertas, abrindo o peito com o bico, dele escorrendo gotas de sangue com que sustentam os filhos.
É verdade que algumas espécies chegam mesmo a deixar-se devorar pelas suas crias. Morrem para dar vida. O pelicano o fazia, se preciso fosse, para que os filhos não ficassem órfãos de ternura.
Vede quanta bondade cabia nas asas de um pelicano!
Por: José Pacheco
 345total visits,2visits today
345total visits,2visits today