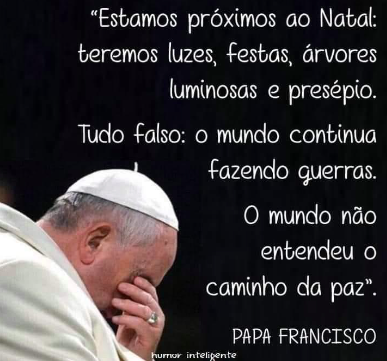Nascentes de Luz, 24 de dezembro de 2043
Nunca agradeci o bastante por a minha amiga Andreia me ter levado até à “Nascentes de Luz”, um lugar onde o Natal acontece todos os dias. Senti-me em família, numa época em que, voluntariamente exilado no Sul, toda a minha família estava no Norte.
Pelo WhatsApp, acompanhava os preparativos da “Consoada”. O Natal de vinte e três todos reuniria numa “Festa da Família”, na casa da Luísa. A dez mil quilómetros de distância, com eles conversei, nesse Natal brasileiro celebrado na casa da Mariana.
Dias antes, recebera um texto da minha amiga Maria do Céu Roldão, retrato fiel dos natais do Norte e do Sul. Aqui vo-lo deixo, com votos de um Natal de Paz.
“O cowboy da meia-noite.
O homem estava caído de lado, imóvel, no chão do centro comercial. A perna dobrada vestia uns jeans coçados. Nos pés uns ténis modestos. Em volta, uns quantos funcionários afadigavam-se relativamente – entre olhar com ar entendido e usar os telemóveis para pedir socorro.
Nós, os clientes apressados, detínhamo-nos um pouco – divididos entre uma espontânea inquietação e a mórbida curiosidade pela tragédia, entre uma vaga ideia de ajudar – mas fazer o quê? – justificamo-nos … e o poderoso instinto de fugir para o conforto das margens. Lá ficou, um homem caído no chão, doente ou morto. E eu segui. Como os outros. Afogada na onda de decorações e cantos de Natal e no afã dos inadiáveis compromissos.
Joe Buck, o ingénuo texano – do extraordinário filme de 1969 “O cowboy da meia noite” – que vem do campo para Nova Iorque, em busca da fortuna, e aí se envolverá com um improvável amigo, coxo e marginal (Dustin Hoffman, inesquecível!…), inicia a sua experiência na grande metrópole com uma sequência espantosa , em que um homem cai no passeio aparentemente com um ataque cardíaco , em plena 5ª Avenida, e a multidão , perante o seu olhar de estupefação e horror, continua a caminhar apressada, ao lado do homem caído no chão, sem se alterar, sem se desviar, sem sequer baixar os olhos. (“Vejam bem daquele homem a fraca figura/ desbravando os caminhos do pão; e se houver/ uma praça de gente madura / ninguém vai levantá-lo do chão” – ecoa a voz do Zeca na minha memória).
A solidão indefesa – podia ser o outro título desta melancólica escrita, num tempo de festa. A solidão monstruosa e o abandono irremediável – na doença, no desespero e na morte. A desatenção tornada “natural” quando um de nós está perdido. Ou quase. A solidão insuportável do silêncio em que se isolam hoje os humanos, atrás de mil gadgets hipercomunicacionais, olhares perdidos em lado nenhum, ausência quase total do sermos “nós”. A exposição indefesa de um corpo entregue à sua queda.
Acabei, no mesmo dia, de fazer o pequeno e tosco presépio que insisto em montar – sou quase a única cá em casa a dar importância a essa pequena encenação do acontecimento maior do Natal, não sei muito bem porquê… Talvez porque, para mim, mais do que todo o simbolismo religioso e cultural, a teatral disposição da cena do nascimento de Jesus expõe sobretudo a irremediável, comovente e gritante solidão de uma rapariga e de um homem, solitários, expulsos e indefesos, na noite fria em que lhes nasce um filho. E o que me reconforta na simbologia do presépio, quando a recrio em cada ano, é que coloco as figurinhas todas a dirigirem-se para eles. A caminhar no sentido inverso da solidão. Guiados pela estrela, ou pelo melhor do que existe nos seres humanos, pastores e reis vão vê-los, vão presenteá-los, vão acompanhá-los. Vão estar com eles.
Bom Natal!”
A saudosa Maria do Céu ainda viveria um Natal fraterno: o de 2024. Dele vos falarei.
Por: José Pacheco
 220total visits,2visits today
220total visits,2visits today