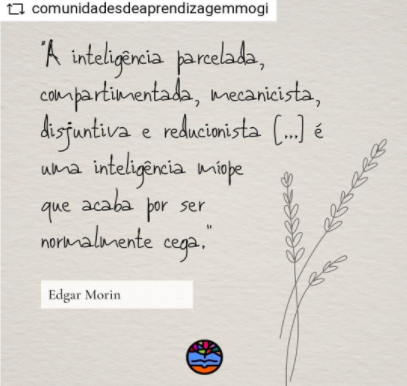Água Branca, 5 de janeiro de 2042
É durável somente o que faz sentido que se renove ou transforme em cada um dos nossos transitórios dias. Do mesmo modo, nenhum modelo educacional é perene. Por essa razão, nos idos de vinte, eu dava por mim formulando as mesmas perguntas de há trinta, ou quarenta anos. Entre 2022 e 2024, quando algum burocrata usava a expressão “ano letivo”. Eu pedia licença e lhe perguntava:
“Por que razão o ano letivo tem o seu início em setembro? Por que não em janeiro, ou em fevereiro, como no Brasil?
O que era um “ano letivo”? Se esse termo tinha origem no latim “lectione” (“dar lição”, “leccionar”) e se, há muito tempo, se percebera que o menos necessário nas escolas era “leccionar”, que significado teria um “ano letivo”? Aprender (no prédio da escola ou longe dele) não seria um processo contínuo, desejo e ato sem fronteiras seculares? Por que haveria ainda quem continuasse a desperdiçar o seu precioso tempo, transmitindo aos alunos o que estava escrito no livro do “primeiro ano”, quando o sistema estava organizado em ciclos?
Cada aluno poderia ler os livros, sem intermediário, num tempo próprio, que, como sabemos, diferia dos tempos próprios de todos os outros. Seria esse desperdiçado tempo o mesmo tempo idolatrado, em cada início de “ano civil”, e cronicamente reconhecido insuficiente para dar todo o programa, no final de cada “ano letivo”? Talvez porque um “ano letivo” não tivesse qualquer sentido, os professores assinalavam o seu início, aprovando projetos, que jamais seriam postos em prática.
Por que havia segmentação em anos, ciclos, trimestres, semestres…?
O silêncio era a resposta para todas as interpelações.
Na década e setenta, eu participara na experiência pedagógica do “regime de fases”, que antecedeu a instituição do “ano letivo”. Tínhamos concluído que, se não fazia sentido a organização em ano de escolaridade, também não havia fundamento para a instituição do ciclo de escolaridade. Um doutor ainda adiantou argumentos pseudo-psicogenéticos, mas desistiu, quando se sentiu ridículo. Era de lamentar que, não havendo qualquer fundamento para tais segmentações, se continuasse a mantê-las, passadas dezenas de anos.
Na década de setenta, também participei na elaboração dos “novos programas” para o ensino básico. O exercício consistia em partir dos programas “de capa cor de laranja”, para compor o programa de “capa verde” (era assim que os programas eram conhecidos, pela cor da capa. Houve consenso na decisão de não repartir o programa em anos. Propunha-se o ciclo único. Porém, os programas viriam a ser aprovados divididos em anos.
Nunca me explicaram o porquê da decisão. Aventei a hipótese de os editores e livreiros quererem vender livros todos os anos e não de quatro em quatro. Essa seria uma razão de peso. A decisão carecia de fundamentação científica. O vil metal falava mais alto.
De uma formadora digna de crédito recebi esta mensagem:
“Quando trabalhava na formação inicial de professores, recebia depoimentos como este: No estágio, somos obrigadas a seguir os planos à risca. A maior parte dos alunos não conseguia acompanhar. Mas, se nós demorávamos mais um bocado com um ou outro aluno, a professora dizia logo: – Minha senhora, já está atrasada cinco minutos. Olhe para o plano! Já deveria ir no exercício de aplicação.”
Tempo-padrão, uniforme, escorava-se numa lógica de sequência e de controle, era incompatível com uma ideia de individualização da aprendizagem. A seriação fora historicamente construída e cristalizada como norma difícil de modificar. Quem a questionaria?
Por: José Pacheco
 225total visits,4visits today
225total visits,4visits today