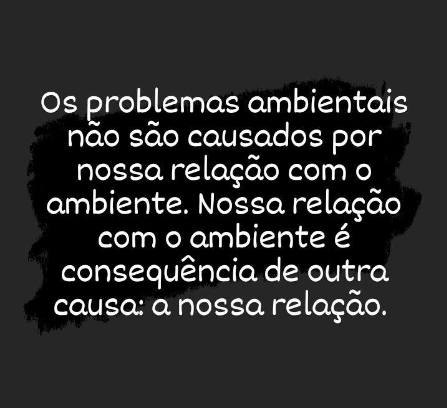São Paulo, 10 de maio de 2042
Queridos netos, certamente, estareis recordados do que vos contei numa cartinha enviada há cerca de uma semana. Era o início de uma estória, na qual dedicados discípulos deixaram que a cabaça do mestre se perdesse.
“E, depois?” – perguntastes.
Pois bem! Deixei que uma semana passasse, para que tivésseis ensejo de pensar o “depois”. Vede se a vossa hipótese coincide com o vosso desfecho da estória.
“Quando o mestre acordou, perguntou se estava tudo bem.
“Está tudo bem, mestre — responderam. — Acontece que a tua cabaça caiu.
E vocês não a apanharam? Onde vou agora pôr a minha água?
Os discípulos responderam:
Mestre, disseste-nos para vermos bem o que caía da carroça e assim fizemos.
Sois mesmo néscios! — replicou o mestre. Não era isso que eu queria dizer, mas o que está feito está feito. A partir de agora, se alguma coisa cair no caminho, apanham-na e põe-na na carroça, perceberam?
Sim, mestre — responderam em uníssono.
O mestre adormeceu, de novo. A carroça balançava e os alunos sentiam dificuldade em manter os olhos abertos. Subitamente, a carroça parou, devido às necessidades dos bois. Quando estes terminaram, a marcha foi retomada. Dois discípulos saltaram para a estrada e apanharam os dejetos para os meter na carroça. Um dejeto caiu sobre a cabeça do mestre, que acordou.
Que estais a fazer? Que porcaria é esta?
Mestre, disseste-nos para apanharmos tudo o que caísse no chão.
O mestre ficou silencioso, por instantes. Decidiu fazer uma lista minuciosa do conteúdo da carroça e deu-a aos discípulos.
Se alguma destas coisas cair do carro, recolhei-a. Mas só o que está escrito na lista.
Sim, mestre — concordaram os alunos.
O mestre voltou a adormecer. A carroça subia uma encosta íngreme, ladeada por um riacho. Os discípulos iam ensonados. De repente, ouviram um grande ruído: o mestre tinha caído à água.
Socorro! Socorro! — gritava.
Os discípulos pegaram na lista e percorreram-na escrupulosamente. O nome do mestre não constava dela. Decidiram retomar o caminho. Ao vê-los afastarem-se, o mestre gritou:
Aonde ides? Parai imediatamente!
Os alunos, obedientes, pararam e foram ao encontro do mestre.
Quereis que eu morra? Caio da carroça, quase me afogo e nenhum me vem socorrer?
Mas, mestre — desculparam-se — não tínheis incluído o vosso nome na lista e nós só devíamos apanhar o que lá estivesse escrito. Quisemos obedecer-vos.
Claro que me obedeceis! — gritou o mestre, exasperado. — Mas o fazeis sem refletir! Pensai antes de agir, em vez de seguirdes cegamente o que eu vos digo para fazer!”
Sei que não agis como esses discípulos. E que estareis a pensar: por que razão o nosso avô nos conta esta estória? Porque, há vinte anos, vigorava o paradigma do comando e controlo. O Donald dissera serem os professores profissionais críticos, reflexivos, mas eram reproduzidas práticas carentes do ato reflexivo e pródigas em atos reflexos.
Eram trágicas as consequências. Por essa altura, um milhão e seiscentos mil estudantes estavam sob a influência de duas ou mais drogas psiquiátricas. Contava-se por setenta a quantidade de jovens que se mutilavam e por 120 mil os que tentavam suicídio (só nos Estados Unidos).
O Donald também afirmava que era impossível aprender sem ficar confuso. Neste mesmo dia de há vinte anos, eu completava o meu septuagésimo primeiro ano de vida e começava a suspeitar de que seria eu quem estava confuso e sem razão. Começava a pensar que, por desejar refletir e aprender até ao fim da vida, a minha perplexidade perante a trágica situação talvez não passasse de um primeiro sinal de senilidade. Talvez…
Por: José Pacheco