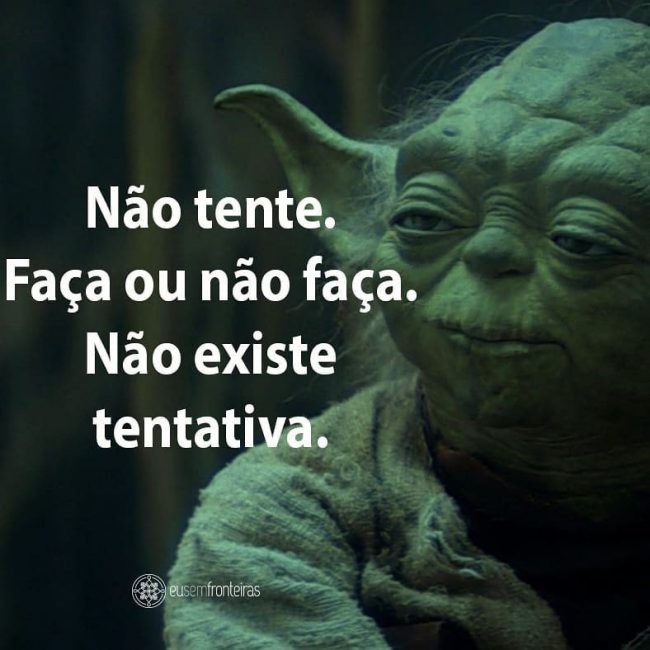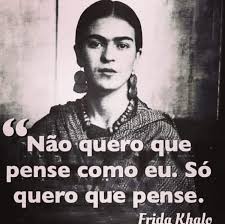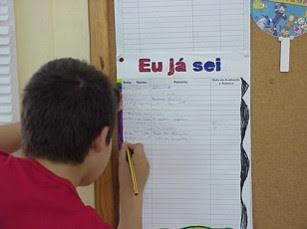Brasília de Minas, 17 de setembro de 2040
Retomarei assunto já conversado, a coerência entre o pensar e o fazer. Ofereço-vos um contraponto da incoerência, revelando uma das facetas do projeto de uma escola em que havia consonância entre teoria e prática. Essa escola assumia um preceito de Pestalozzi: “A educação moral não deve ser trazida de fora para dentro da criança, mas deve ser uma consequência natural de uma vivência moral”.
O projeto (escrito) dessa escola consagrava valores, cuja prática operava o resgate daquilo que torna os seres humanos mais humanos. A práxis dessa escola permitia aos seus alunos partirem do zero em comportamento para a nota dez em humanidade.
Diz-nos o dicionário que valor é preceito ou princípio moral passível de orientar a ação humana. Há vinte anos, havia visíveis sinais de que a velha escola estava prestes a parir uma nova escola. E, ao tentar colocar valores e princípios em ato, num incansável FAZER, educadores sensíveis sentiam intensas dores de parto.
Nas minhas conversas com professores, muitas vezes escutei expressões deste tipo:
Eu gostaria de mudar a minha prática, mas…
Eu respondia com uma rude interpelação:
O que o impede de mudar? Gostaria, ou quer? Decida!
Havia quem quisesse, mas não quisesse, quem tentasse e hesitasse, embalando a incoerência num blá, blá, blá, entre o lamento e a autocomiseração. Desisti de me preocupar com inovadores não-praticantes. Investi toda a minha energia na fraterna ajuda àqueles que, no chão da escola, concretizavam princípios.
A vivência dos valores enforma o caráter, projeta-se nas atitudes, opera transformações, desenvolve uma “ética universal do ser humano”, como diria o saudoso Paulo. A coerência entre teoria e prática reorientava a ação humana e dava bons frutos. E o filho da Cleide já não assistia às aberrações do Big Brother.
O pai do Maique, atento e crítico nas intervenções que fazia durante as reuniões de pais, ajudou a escola na compra de um violino para o seu filho. Aos treze anos, quando chegou àquela escola, o Maique não conseguia sequer pegar num lápis. Os trabalhos da roça tornaram os seus dedos hirtos, as mãos calejadas difíceis de fechar. Mas, já ia ensaiando acordes de bachianas partituras, enquanto aprendia noções de matemática. O impulso criativo da orquestra de jovens ganhou raízes no propiciar às crianças a oportunidade do deslumbramento dos sentidos.
Sabemos que a transmissão de valores se dá pela convivência, pelo exemplo, pelo contágio emocional. Assim aconteceu com o Maicon, filho de pai que não chegou a conhecer e de mãe assassinada por traficante. Por ter sido vítima de estupro, não controlava o esfíncter anal. Naquela manhã, chegou cheirando a fezes, urina e suor. E não tardou a reincidir no xingamento e na agressão aos colegas.
O professor aproximou-se e abraçou-o… com firmeza. O Maicon tentou libertar-se do amplexo, estrebuchou, gritou. Quando se acalmou, o professor ficou a fitá-lo, em silêncio. Quando o Maicon tirou os olhos do chão, falou:
Tio, posso fazer uma pergunta?
Podes. – respondeu o professor.
Posso dar-lhe um abraço?
Aquele corpo franzino colou-se ao peito do professor. E o inusitado questionamento repetiu-se:
Tio, posso fazer outra pergunta? Posso?
Antes que o professor, visivelmente emocionado, pudesse responder, o Maicon acrescentou:
Por que foi que o tio chorou, quando eu o abracei?
Bastou um momento de carinho e firmeza, para que a reciclagem dos afetos acontecesse. Tem razão o Juarez, quando diz que não há tarefa impossível, quando ao desejo do coração se soma a verdade da intenção.
Por: José Pacheco