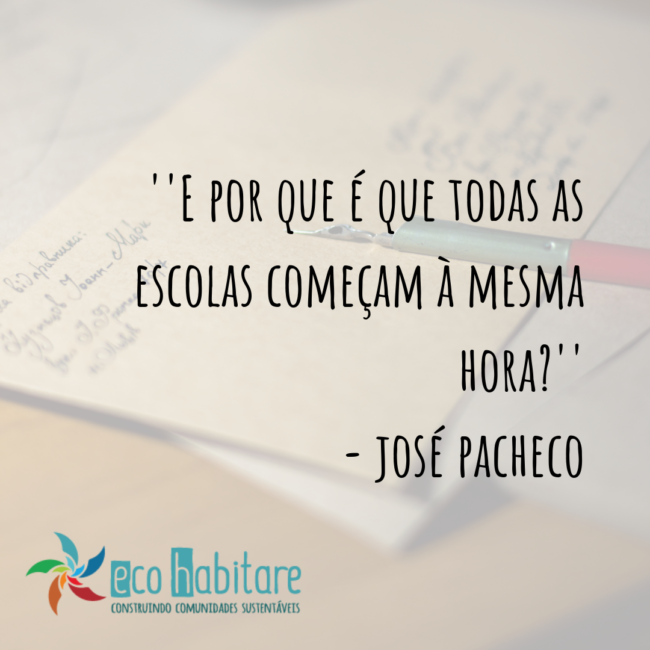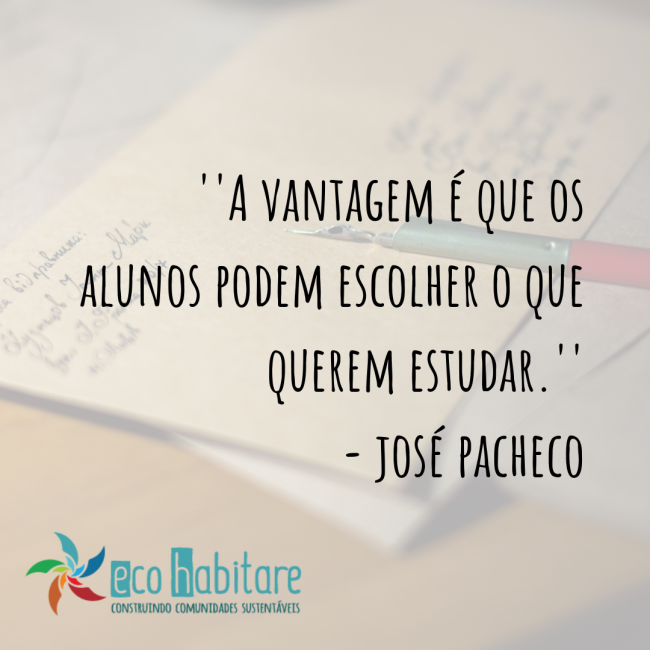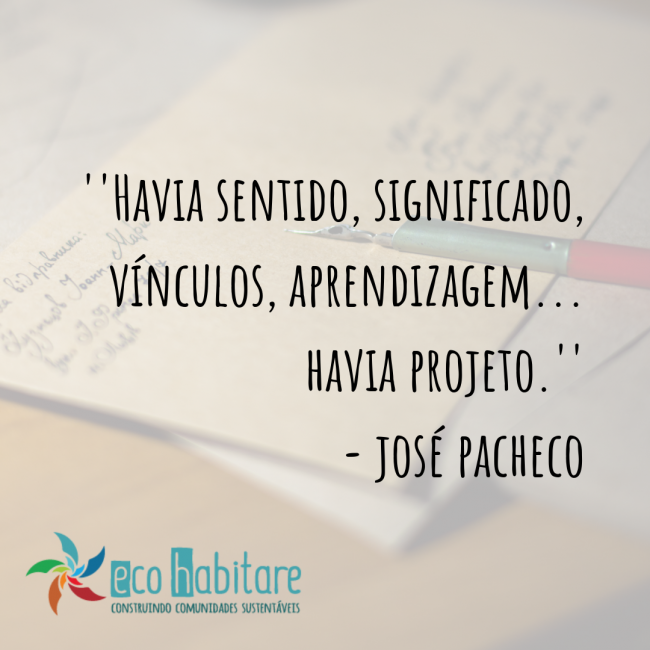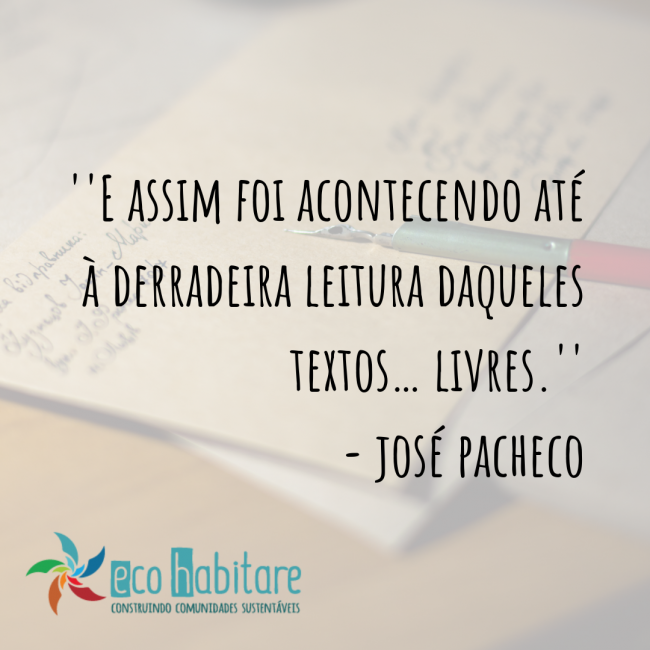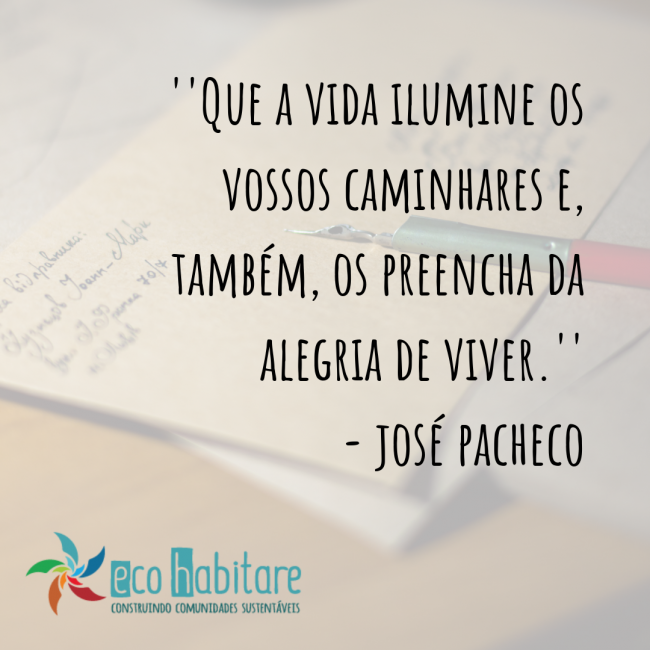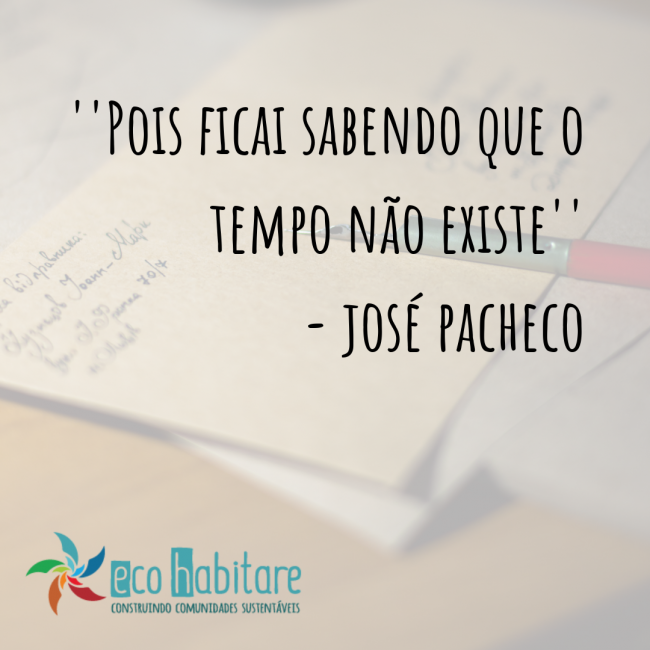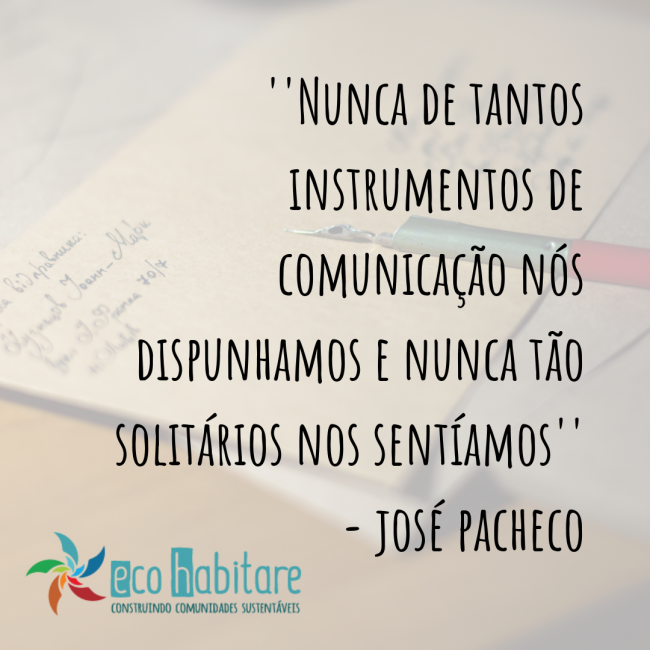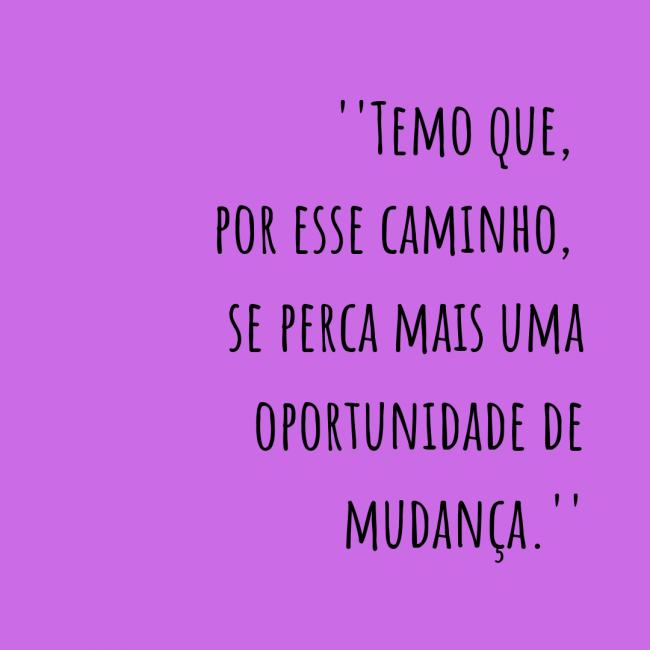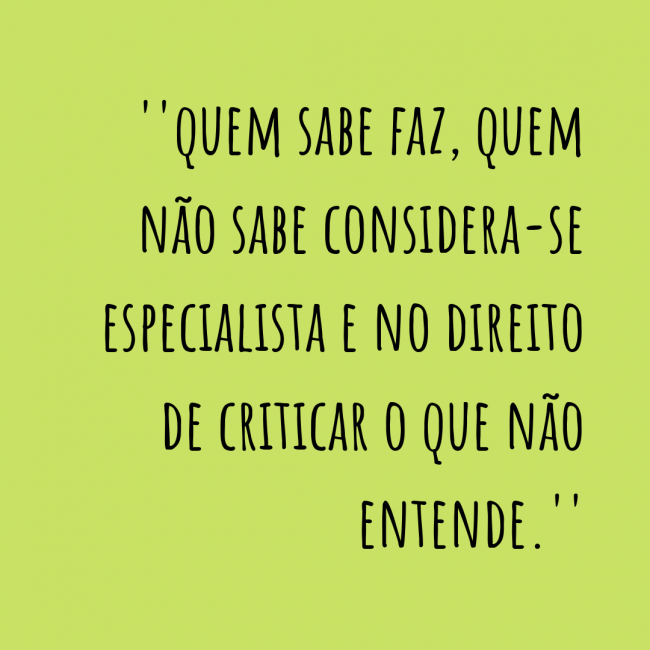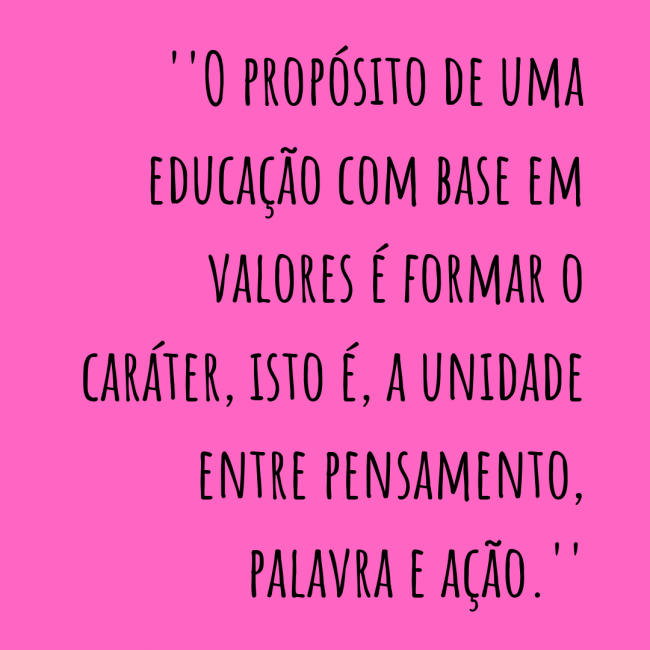Guarulhos, maio de 2039
No tempo em que éreis jovens, o vosso avô cumpria a sua diáspora e era frequentador assíduo de aeroportos, como aquele de onde vos envia esta carta.
Guarulhos foi palco de peculiares episódios. Certamente, ser-vos-á difícil de acreditar, mas, naquele tempo, imperava o medo de atentados. Para voar, o vosso avô era revistado, obrigado a tirar o cinto e a despir o calçado. Descalço e segurando as calças, passava por uma máquina, rezando para que o alarme não soasse e fosse sujeito a desconfiados olhares e apalpações. A via sacra continuava na área de embarque, onde, raramente, os voos partiam no horário previsto de partir.
Certa vez, foi o Virgílio que se atrasou e perdeu o voo. Encontrei-o, esbaforido, inconsolável, quando tentava encontrar um voo alternativo:
O taxista não teve culpa. Hoje, voltaram as aulas e era o horário de entrada na escola. O trânsito estava infernal! Engarrafamentos…
E por que é que todas as escolas começam à mesma hora? – repliquei.
O Virgílio não tugiu, nem mugiu. Mas lançou-me um olhar assassino. E a conversa ficou por aí…
Ele era funcionário do ministério da educação. Já lhe havia dirigido essa pergunta, inúmeras vezes. E muitas outras, que aguardavam resposta:
Por que há férias escolares, intervalos, trimestre, semestre, ano letivo? Por que razão uma aula dura 50 minutos? Por que são duzentos os dias letivos, se nós aprendemos nos 365 dias de cada ano?
Por mais inverosímil que possa parecer, crede que assim era, antigamente. Felizmente, o tempo dos atrasos e do medo pertence ao passado. E do passado recupero outro episódio.
O Egídio, adepto confesso da imposição de cadências uniformizadoras e horários-padrão, tomou consciência da diversidade rítmica quando menos esperava e como, a seguir, se verá.
No intervalo de um congresso, careceu de satisfazer uma elementar necessidade fisiológica. Dirigiu-se ao banheiro. A célula fotoelétrica funcionou e fez-se luz. Foi até ao fundo do corredor, encostou-se ao mictório e deu início à aliviação. Para não sair a meio da palestra, a contenção urinária havia sido longa e as águas a verter eram mais que muitas.
Subitamente, a luz foi-se. Sem deter a micção, o Egídio ergueu um braço e acenou, voltou a acenar e… nada! O banheiro manteve-se imerso na mais profunda escuridão. Ao trocar de mãos, para acenar com o outro braço, escapou-se-lhe a coisa, e os urinários fluidos verteram-se, calças abaixo, numa torrente morna, que não tardou a sentir fria e desconfortável, até aos sapatos. O Egídio sacudiu-se. Depois, hirto e sofrido, empreendeu o regresso, percorrendo o longo corredor às apalpadelas, praguejando de cada vez que introduzia as mãos tateantes em humidades não-identificadas.
Acabou o périplo encaixado entre dois lavatórios e embatendo frontalmente contra uma traiçoeira parede, que as trevas ocultavam. Meio tonto da pancada, continuava a acenar com a sinistra. Contornou o obstáculo, com a mão direita colada à dorida fronte. E, ao contornar a fatídica parede, o automático, que estava ajustado para o tempo-padrão de uma urinação normal, disparou novamente. E fez-se luz!
Curioso e inteligente como qualquer professor, ao cabo de uma breve pesquisa, o Egídio apurou que os toques de campainha tinham sido introduzidos nas escolas do século XIX. Já ninguém se recordava dos objetivos visados na longínqua introdução desse dispositivo. Mas, decorrido mais de um século, a sineta manualmente acionada do tempo dos avós dos professores continuava a soar a mando de um computador.
Recebei um beijo do avô
Por: José Pacheco