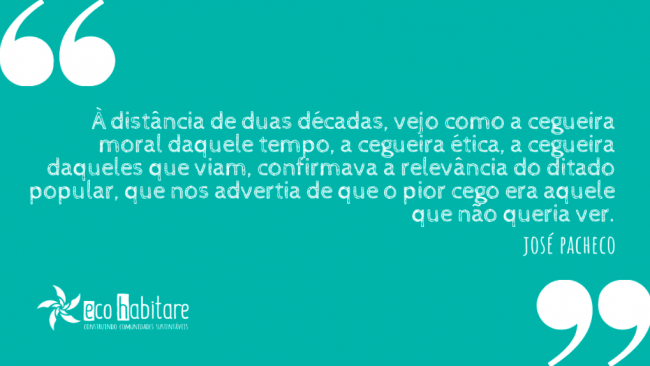Nova Lima, 22 de abril de 2040
Durante quatro anos, andei por terras mineiras, assentei arraiais perto de Nova Lima e de Brumadinho, lugar onde centenas pereceram por humana incúria. Por essas paragens e em Belo Horizonte conheci a Isabel, o Helder, a Norma, a Maria, a Gracinha e muitos outros anônimos educadores, de quem não resta memória escrita, nem do bem que fizeram. Cada qual, a seu modo, tentou desocultar uma estranha cegueira, uma pandemia de que muitos professores padeciam.
Decorria o mês de maio de 1968, quando Agostinho da Silva assim falou perante os deputados da Câmara: Na Universidade, o professor tem sido um sujeito que entra para dar aulas. A Universidade ficou no século XIX e os alunos já estão no século XX, ou no século XXI. Meio século decorrido, Bauman falava-nos de uma cegueira moral, de uma cegueira ética, a cegueira daqueles que veem, enquanto Saramago metaforicamente se referia a uma cegueira social, quando apelava ao dever moral dos que enxergam. No seu “Ensaio sobre a Cegueira”, usou a expressão “cegueira branca”, não se referindo à cegueira física, mas à cegueira moral, a uma peculiar “patologia”. O termo foi usado para representar o recusar ver: O medo cega, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos.
Sendo a cegueira social uma sutil forma de alienação, Saramago nos convidava a uma reflexão sobre o estarmos cegos: Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Talvez fosse intenção do autor recorrer à palavra “repara” numa dupla conotação: ao ato de “ver, claramente visto”, como Pessoa diria. Mas, também, ao ato de “reparar”: posicionar-se, agir para corrigir. Nutria profunda admiração pelo escritor, por acreditar na remissão dos pecados da minha espécie, apesar daquilo que via, “claramente visto”. E o que via?
Via que as tecnologias digitais se constituíam em mais uma panaceia, que comprometa a substituição de um obsoleto sistema de ensino para sistemas de aprendizagem. Na Internet, via simulacros de inovação, sob a forma de cursos e “aulas gratuitas”. Quando assistia a esse triste espetáculo, esperava a denúncia da mercantilização da ensinagem por parte daqueles que, como eu, eram especialistas, se tinham formado em ciências da educação. E suportava o seu obsceno silêncio.
Via que a universidade continuava estacionada no século XIX. Desde a crítica formulada pelo mestre Agostinho, em 1968, pouco, ou mesmo nada, mudara na universidade. Algo esquizofrénico acontecia: os professores da formação inicial diziam aos alunos que o ato de aprender deveria estar centrado no aluno; mas davam aula… centrada no professor.
Há sessenta e quatro anos, eu ajudara a criar um projeto, que logrou a passagem do paradigma da instrução para o da aprendizagem, garantindo a todos o direito à educação. Depois, acompanhei projetos fundados no paradigma da comunicação. Nesses contextos, as tecnologias de informação e comunicação contribuíam para concretizar as propostas de Papert, Castells, Morin, Maturana, Nise, Nilde, Lauro, Agostinho, Freire…
Esses e outros mestres me mostraram caminhos de transição. Com eles, aprendi que a aprendizagem não está centrada no professor, nem só no aluno. Que aprendemos na intersubjetividade. E que era muito raro que esse processo ocorresse em sala de aula.
À distância de duas décadas, vejo como a cegueira moral daquele tempo, a cegueira ética, a cegueira daqueles que viam, confirmava a relevância do ditado popular, que nos advertia de que o pior cego era aquele que não queria ver.
Por: José Pacheco
 337total visits,1visits today
337total visits,1visits today