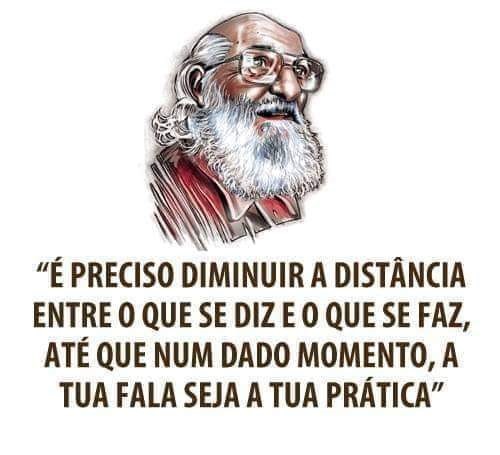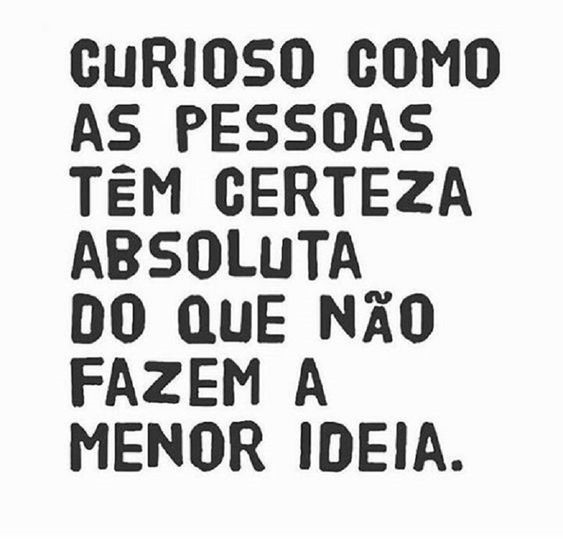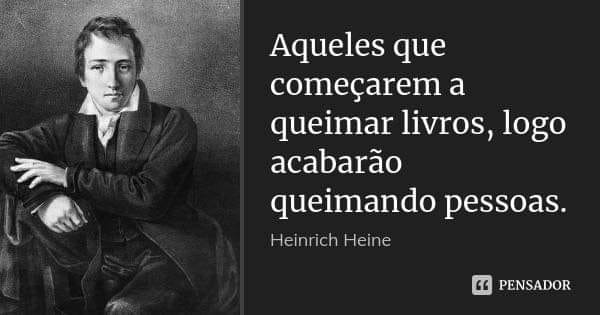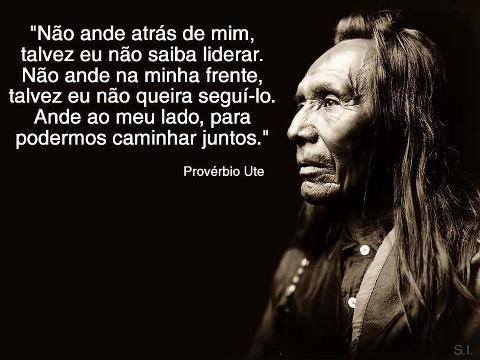Boa Esperança do Sul, 9 de outubro de 2040
Ainda mais umas palavrinhas sobre… inclusão. Em 2020, o MEC havia baixado mais um decreto. E os meus amigos da Fundação Síndrome de Down assim se manifestavam:
“A luta pela vida inclusiva das pessoas com deficiência pressupõe de modo indispensável a inclusão escolar, luta de décadas que encontrou ressonância na Convenção da ONU de 2006, na Constituição Federal de 1988, na Lei Brasileira de Inclusão. Não pode agora um decreto, o Decreto No.10.502 de 30.de setembro.2020, retroceder direitos duramente conquistados retomando a escola especial e as absurdas salas especiais nas escolas regulares. A Fundação Síndrome de Down repudia tal decisão”.
Nesses sombrios tempos, havia quem estivesse atento aos disparates “legais”. Num tempo feito de ignorâncias e medos, havia quem resistisse, quem denunciasse desgovernações. A administração educacional era hábil no recurso a regulamentação infralegal, para impedir que mudanças acontecessem. E, por decreto ou portaria, destruíam tentativas de melhoria do sistema.
Durante mais de duas décadas, muitos alunos “especiais” foram matriculados em “estabelecimentos regulares”, “incluídos” em turmas com número reduzido de alunos, ou os remeteram para o degredo de salas “especiais” Também lhes ofereciam a alternativa de atendimento especializado, em contraturno. Tudo insuficiente e até mesmo inútil, porque, por mais cosmética que se pudesse fazer na escola da aula, ela nunca seria inclusiva.
Talvez os “especialistas” não tivessem lido a “Resolução da Conferência de Salamanca”. Ou, se a leram, não a entenderam. Seria possível fazer acontecer “inclusão”, se acontecessem mudanças efetivas na cultura humana, questionando a estrutura das formas de educação desse tempo. O desenvolvimento de atitudes de respeito, solidariedade e preservação da vida pressupunha escapar de formatações e superar visões fragmentárias.
A sala de aula era o dispositivo central da escola excludente, segregada do social e segregadora, separada da vida. A “crise” da escola instrucionista consistia, sobretudo, na dificuldade de lidar com a diversidade, com crianças e jovens excluídos, sem direito a um projeto de vida. A escola punia aqueles que já tinha punido! Escolas que não asseguravam uma base comum para percursos diferenciados, não faziam sentido para desfavorecidos. Eram guetos, quer de “especiais”, quer de “normais”, como Férrière as descrevia, já em 1920:
“A criança gosta de natureza, fecharam-na em casas; a criança gosta de criar, puseram-na a um trabalho sem sentido; a criança gosta de se mexer, condenaram-na à imobilidade; a criança gosta de falar, condenaram-na ao silêncio”.
O decreto de 2020 era um regresso ao passado, a medidas de política educacional anteriores à Conferência de Salamanca. Questionava direitos adquiridos, como aqueles que constam da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e da Constituição Federal. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que integrava a Agenda 2030 da ONU, previa que fosse assegurada educação inclusiva. A equidade, como princípio básico, requeria diferenciar estratégias para gerar inclusão. Requeria a participação dos “especiais” em espaços comuns de convívio, exatamente o oposto da proposta veiculada pelo decreto. Mas, o Brasil descumpria, ignorava compromissos internacionais. Ao abrir espaço para a volta das “escolas especiais”, se comprometia décadas de esforços para promover educação inclusiva.
Por: José Pacheco