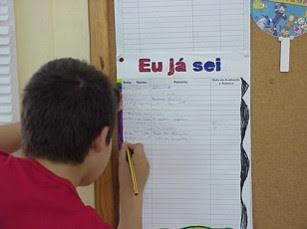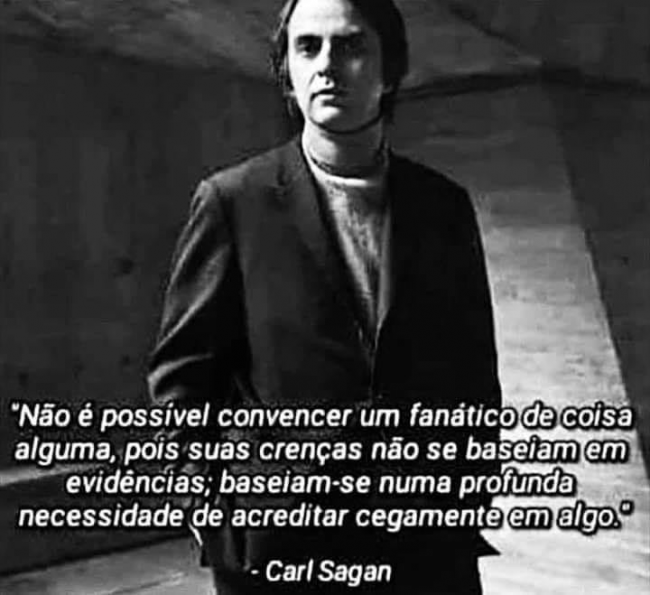São Luís de Montes Belos, 9 de setembro de 2040
(continuação da cartinha anterior)
Recordar-vos-ei de ter dito que eu era novo naquela escola. Nascera na cidade grande e ali estava, numa pequena vila de província, numa escola que funcionava num pardieiro sem banheiro. Queria acreditar que os pais dos alunos eram pessoas inteligentes e se preocupavam com o bem-estar dos seus filhos. E lá fui até ao boteco…
Por uns cinco, dez minutos, aquele pai observou o inusitado forasteiro, observação participada pelos restantes clientes do boteco, nas breves tréguas de entusiasmo posto na sueca e na bisca lambida, até que o Quico apontou para mim e logo o pai o repreendeu:
“Filho, não se aponta, que é feio!”
E de mim se foi aproximando, insistindo com o filho:
“Quico, tens a certeza de que este senhor é mesmo o teu professor?”
“O senhor desculpe, mas o meu filho disse-me que o senhor é que é o professor dele. Não, não se incomode, não precisa de se levantar! É a primeira vez que encontro um professor, porque largo o turno das duas e, a essa hora, já os professores voltaram para casa. Só queria cumprimentá-lo e dizer-lhe que tenho muito gosto em o conhecer. Mas, não se ofenda se lhe disser que um boteco não é lugar para um professor…”
Convidei-o para se sentar, mas o pai do Quico retorquiu:
“Fazia muito gosto que viesse beber um copo a minha casa”.
Eu já tinha almoçado e tomado um cafezinho. Hesitei. Vinho, a esta hora? Eu, que ainda passara do suco para o vinho! Mas, senti que seria naquela hora, ou nunca mais. E lá fomos, pai e professor, com o Quico correndo mais adiante. De modo que, à chegada, já três “mochos” (banquinhos de três pernas) nos esperavam no quintal.
“Faça o favor de se sentar. É como se estivesse em sua casa! Eu já volto”.
Voltou com uma garrafa de um tinto carrascão e dois copos, que pousou no banquinho do meio.
Falamos do Quico, da necessidade de obras na escola, com o copo de tinto a agir como mediador cultural. O néctar (de se lhe tirar o chapéu!) aqueceu as entranhas e os espíritos naquela fresca tarde outonal. Ao cabo de duas horas de conversa e três garrafas vazias, as palavras saíam bem mais fluentes, mais amigas. Já não era um pai e um professor que ali estavam. Eram dois homens a preparar o projeto de vida de outro homem.
Sabemos que, entre a escola e a família, nem sempre foi fácil estabelecer laços. Contudo, algumas situações, vividas no dia a dia de uma escola reinventada, provaram ser possível comunicar.
Quarenta anos se passaram sobre esse encontro. Numa visita ao novo prédio da Escola da Ponte, uma criança perguntou:
“O senhor quer que eu lhe mostre a nossa escola?”
A Dona Helena interpelou a criança:
“Tu não sabes que é este senhor? É o Professor Zé!”
“Ah! – exclamou a criança – Foi professor do meu avô!”
Encontrei o seu visavô e retomamos a conversa interrompida.
“Olha, amigo Zé, devo fazer uma confissão. Quando, há quarenta anos, tu estendias as fraldas do teu filho, na varanda da tua casa, vestido de avental, não ouvias pessoas a chamar-te viado? Confesso que eu era uma dessas pessoas e peço-te desculpa. Quando ias pela rua, abraçado à tua mulher, eu também gritava: “Ó boiola, tira a mão da mocinha!” Tu não sabias, mas os homens desta terra só saíam com a mulher ao domingo, para ia à missa. E, na calçada, os homens iam na frente e as mulheres iam mais atrás. Eu era um daqules que te xingava, confesso.”
“O que queres dizer com isso, meu amigo?”
O meu amigo abriu um sorriso maroto no seu enrugado rosto e assim falou:
“É que, agora, amigo e Professor Zé, eu estendo roupa e vou à missa abraçado à minha mulher. Não tenho vergonha disso e, também, já ninguém xinga.”
Por: José Pacheco